O meu roubo inesquecível
por Urariano Mota, Boitempo Editorial
Eu também já fui ladrão, confesso.
Eu e um amigo, a quem chamarei de Hermann, trabalhávamos em um banco privado. Começávamos o expediente às 7 da manhã, quando não mais cedo, e terminávamos por volta das 20 horas. Melhor dizendo: fazíamos um breve intervalo para o outro dia. Isso, é claro, quando não demonstrávamos maiores provas de amor ao ofício estendendo a jornada até as 22 horas. Ainda assim, não chegávamos a ganhar o pão com o suor do próprio rosto, porque: a) o que ganhávamos não dava para o pão acompanhado de qualquer proteína; b) não suávamos, porque o trabalho era sob o frescor do ar-condicionado. Mas alguma coisa ganhávamos, como veremos.
Nada direi sobre Hermann, um descendente de empresário sueco, um descendente bastardo já se vê, um sujeito deserdado, que estendia olhos mui nobres para o que os seus dedos finos não alcançavam. A saber, tudo: cervejas, cigarros, e, luxo dos luxos, almoço, janta e ceia. Nada direi. Importa saber que em uma fatídica noite Hermann estendeu sua cobiça para uma direção. Acompanhei-o, não bem por solidariedade, mas por experiência. Os seus olhos sempre se dirigiam para o que eu também ambicionava. E vejo e vi então o grupo dos quatro gerentes que entrava em nossa última sala, próxima à cozinha (mirem como o diabo nos queria). Ali se encontrava o refrigerador, que de ordinário abrigava somente água, nada mais que água. De sede, portanto, não morreríamos.
Entram os gerentes. À frente, como sempre, o gerente geral, obeso, bon vivant, cheio de ideias positivas sobre o crescimento material das pessoas. Ele era a tese, antítese, síntese e realização dos princípios positivos. Atrás, o vice-gerente, fiel discípulo. E depois, em ordem cadenciada de passos e postos, os outros em escala descendente de hierarquia e salários. Como apareciam todos de ternos, com o paletó aberto a mostrar seus ventres redondos, dir-se-ia uma fila de pinguins a caminhar para a neve – o refrigerador ao lado de nós. Mas isso, para aquele instante, não é novo.
O novo, o que os olhos de Hermann identificam com precisão e necessidade, são as caixas que eles portam, objetos oblongos, cujo conteúdo pelo cheiro e forma adivinhamos. Olhamos e baixamos a vista: são caixas de sorvete, preciosos sorvetes de frutas tropicais. Um quilo de sabor infernal em cada uma. Cajá, mangaba, caju… Se um gênio nos perguntasse àquela hora das 21 horas, em 1981:
– Homem, o que desejas? Vida eterna, tesouro, ser amado pela maja de Goya….
Nós responderíamos, sem dúvida e sem vacilar:
– Primeiro o sorvete, gênio. Depois, conversamos com mais calma e firmeza.
Apoie o VIOMUNDO
Um dos gerentes, o mais afoito e arrogante, passa de volta e assim nos saúda, como sempre nos saudava:
– Meninos… – Com esse tratamento ele apenas nos põe no lugar de subalternos, ainda que sejamos mais velhos que ele. – Meninos…
E passa, com o seu largo traseiro. Deixa atrás de si, além da cauda que parece arrastar, um cheiro de cu, álcool e perfume estragado pelo álcool da noite e banquetes. Saem. Batem a porta. O banco mergulha em silêncio, aquele mesmo silêncio que antecede a madrugada e permite a maior liberdade aos ratos. Eu e Hermann nem nos olhamos mais. Enquanto somamos valores de cheques, enquanto amarramos papéis em lotes, não nos sai da cabeça a tentação dos frutos proibidos. Então eu me levanto e vou olhar, somente olhar e mais nada, a cara, somente ver a cara dos sorvetes. E pelo nome na tampa, percebo que um deles é de cajá. Ora, ver é permitido. Ver não dói. Somente ver, Senhor. Ora. Com artes de arrombador de cofres eu retiro a tampa da caixa. E vejo a cor amarela.
Ver dói. Dá um sabor, um aroma, um travo de recordação na língua. O dicionário Aurélio informa que o cajá é fruto da cajazeira, que por sua vez é árvore de produzir uma drupa elipsóide amarela, aromática, muito sucosa e fortemente azeda, própria para refrescos e sorvetes. O que o dicionário não ensina é que o sorvete de cajá na altura das nove da noite, em dois bancários com fome, é qualquer coisa mais que irresistível. E com aquela raiva que nos possuía, com aquele ódio de classe acumulado pelo “meninos”, eu lhes digo, o cajá tem uma força maior que a do sexo para marujos perdidos. E por isso, eu, o almirante sem esquadra, comando um rápido assalto e abordagem.
– Hermann – eu oriento o deserdado – Hermann, se a gente fizer assim, eles não vão notar.
E com isso dou o exemplo. Com uma colher faço raspagens, retiro lâminas da superfície do cajá, rebaixo o tamanho delicadamente (tão delicado quanto um homem com fome assalta uma presa), de forma e de formas a deixar o volume do sorvete bem distribuído, em uma mesma altura.
Olhem, mirem e escutem, eu não quero incriminar outra pessoa. Mas eu acredito até hoje que Hermann foi o culpado. Ele acabou com o sorvete! Ele, sem seguir a minha orientação, fodeu todo o cajá! O animal esvaziou todo o conteúdo suculento próprio para refrescos e sorvetes. Disse-me ele depois que não poderia seguir as minhas instruções de calma, “vá com calma, Hermann, atenção, cuidado”, enquanto aquela drupa amarela, melhor que as majas de Goya, era devorada em profundas horizontais por este orientador. O certo é que restou a caixa vazia, que tampamos atenciosos, e com recomendações de estima fizemos retornar ao mesmo lugar e temperatura. Amada, dorme em paz, queríamos dizer.
Chega o outro dia. Mais uma vez entra a fila dos pinguins, em ordem.
– Buon giorno – saúda-nos o gerente geral. Os demais pinguins tentam repetir o italiano do chefe:
– Bom giorno, bom giorno…
Eles se dirigem, como um dia antes, à neve do refrigerador. Eu e Hermann de cabeças baixas, extremamente concentrados em nossas somas e subtrações de valores. Temos que bater o balanço, ora, por favor, não nos distraiam do nosso ofício. Em torno de nós, melhor dizendo, em nossas costas ouvimos o silêncio, aquele silêncio do cinema dos filmes western, o mesmo silêncio que vem antes do ataque dos índios. Súbito, um grito. É agora. Eu não posso nem olhar Hermann. Ele também não me vê. Mergulhamos a cara nos relatórios de conta corrente.
– Quem foi que roubou o meu sorvete? Quem foi?!
Se no mundo explodisse a bomba fundamental, não a ouviríamos. O ventre que entrevemos, por baixo dos olhos, pelo cheiro com que arrasta a cauda, adivinhamos. É do yuppie, que nos trata por meninos. O cajá era dele. Os inimigos se percebem sem palavras, porque ele se dirige a mim, com toda assistência dos pinguins em torno. Juro por Deus que tive então a minha última hora de coragem. Fitei-o com a cara mais cínica e despudorada e repleta de surpresa que um ator pode ter. O meu ser, a minha expressão, pelo menos eu me esforcei para isso, quis dizer:
– A quê o jovem se refere? Na verdade, eu não sei nem se existe no mundo algo parecido com cajá.
As evidências nos apontavam como autores do crime. Eu e Hermann éramos os últimos a sair. Talvez também os de pior condição social e financeira. Em vez do cherchez la femme, e a fêmea era aquela maravilhosa polpa amarela, os sinais anunciavam: busquem os fodidos. E por isso o pinguim mais jovem nos recrimina, olhando ora para mim, ora para Hermann:
– Quem rouba sorvete é ladrão. Quem rouba sorvete, assalta um banco!
Isso foi o mais duro de ouvir. Se houvesse uma catilinária de classe a nosso favor, e se essa catilinária não nos empurrasse para o olho da rua…. baixamos a cabeça e engolimos.
Muitos anos depois, um belo dia soubemos: aquele gerente, aquele pinguim mais jovem se transformou em um criminoso procurado pela polícia federal, porque tomou conta, com excessivo zelo, de valores de clientes. Ou seja, aplicações em papéis, em bolsa de valores, que investidores lhe confiavam, deixaram de ser feitas nos dias e períodos solicitados. Pior: assim como a fome sobre a caixa do sorvete de cajá, que começou pela superfície e foi até o fundo, o nosso Catão havia comido toda a aplicação, e por isso fugiu para lugares menos perigosos.
Não sei se existe moral nesta breve história, mas se houver, passa por esta recomendação: se não for seu, não comece jamais a comer um sorvete de cajá. É irresistível.
Leia também:
Iriny Lopes: “O que fizemos foi respeitar as solicitações recebidas pela nossa ouvidoria”
Furo! Norte-americana sugere rumo ao PSDB
Marcos Coimbra: Serra resolveu virar cientista político
Fernando Morais: “Bloqueio é uma metralhadora apontada para Cuba”
Maria Inês Nassif: Marketing da moralidade vende jornal
Economist: Os gols contra do Senhor Futebol
Urariano Mota: O dia em que o ex-servo virou Doutor na França

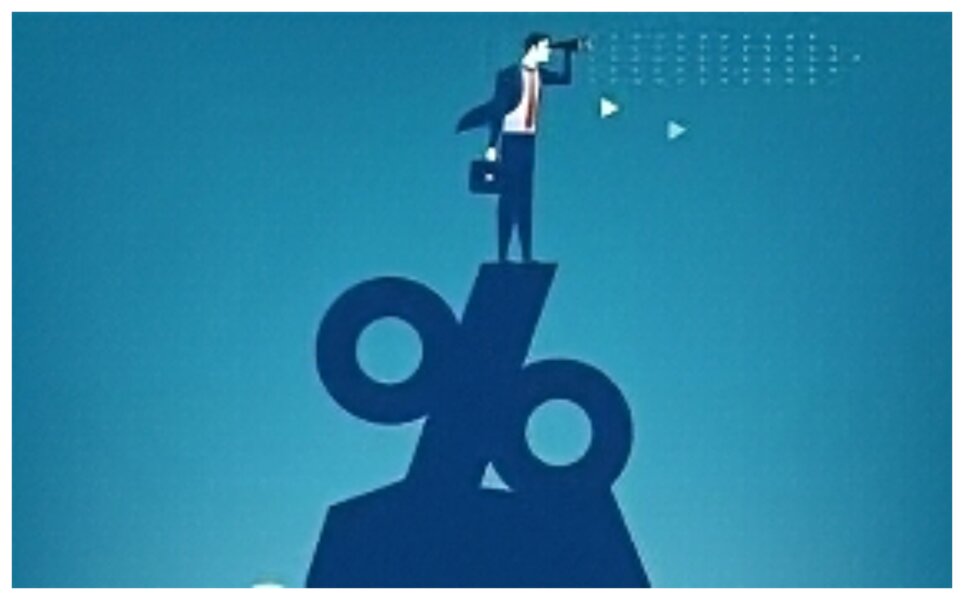



Comentários
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!