Vanderlei Tenório: ‘Elio’, a infância como último idioma da paz
Tempo de leitura: 4 min
“Elio”: a infância como último idioma da paz
Por Vanderlei Tenório*
O ano de 2026 começou com a solenidade pesada de anúncios que ninguém quer ouvir, mas que todos fingem compreender.
As notícias chegaram alinhadas, graves, cheias de verbos musculosos: raptar, bombardear, anexar, sancionar, intervir. Palavras que dispensam o diálogo e só exigem obediência.
O mundo entrou no novo ano como um adulto entra em uma sala onde já sabe que vai discutir, braços cruzados, maxilar tenso, convicto de que tem razão antes mesmo de ouvir o outro.
No centro desse palco volta a surgir Donald Trump, agora mais à vontade, mais seguro de seus impulsos, menos preocupado em disfarçar o gosto pelo confronto.
Um segundo mandato tende sempre a liberar instintos, como se a História deixasse de ser juíza e se tornasse plateia. A escolha de um secretariado alinhado pelas mesmas notas ideológicas confirma isso. Menos mediação, mais eco. E quando o poder passa a falar consigo próprio, o mundo costuma pagar a conta.
A América Latina reaprende, a contragosto, a palavra intervenção. O sequestro de Nicolás Maduro, em território estrangeiro, reabre fantasmas que nunca chegaram a dormir profundamente. O petróleo volta a impor-se como linguagem universal, mais persuasiva que qualquer tratado ambiental.
A Groenlândia reaparece no mapa não como território habitado, mas como promessa mineral.
A África, por sua vez, repete o ciclo amargo das fardas que prometem ordem e entregam dor.
Apoie o VIOMUNDO
No Oriente Médio, imagens de crianças sob escombros insistem em contrariar a retórica cirúrgica das guerras modernas.
É um mundo muito sério. Excessivamente sério. Tão sério que se esqueceu de perguntar se faz sentido.
É precisamente nesse cenário que surge Elio. Um filme da Pixar, dirão alguns, como se isso fosse sinônimo de evasão ou leveza. Um filme de animação, acrescentarão outros, quase pedindo desculpas por falar de algo que não usa gravata nem carrega pastas diplomáticas.
No entanto, há poucas propostas tão radicalmente políticas quanto colocar uma criança no centro de uma narrativa sobre diplomacia, poder e conflito.
Elio é um menino solitário, órfão, deslocado, criado em uma base militar, metáfora que não poderia ser mais transparente. Cresce rodeado de antenas, radares e protocolos, mas ninguém lhe ensina a lidar com a ausência, o medo, a sensação de não pertencer. O mundo adulto cumpre funções, mas falha nos afetos. É nesse vazio que nasce a ideia mais perigosa do filme: comunicar.
Não se trata de conquistar, dominar ou sequer defender. Trata-se de comunicar.
Quando Elio envia uma mensagem para o espaço, faz isso com a convicção ingênua de quem ainda acredita que ser ouvido é possível. Não pede alianças estratégicas nem promete vantagens comerciais. Diz apenas que está ali, que existe, que gostaria de falar. O equívoco que o transforma em embaixador da Terra é, no fundo, uma ironia cruel. Só por engano uma criança chega a representar o planeta. Se fosse escolha consciente, talvez nunca acontecesse.
No Communiverso, assembleia intergaláctica que funciona como caricatura luminosa das organizações internacionais, Elio se confronta com versões exageradas de nossos próprios impasses.
Lorde Grigon, obcecado por poder e reconhecimento, parece saído de uma reunião de conselho misturada com cúpula militar. Procura submissão, não entendimento, vitória, não acordo. No fundo, seu problema não é ideológico, mas emocional, como acontece na maioria dos conflitos prolongados.
Elio, por outro lado, não sabe bem como ser embaixador. E talvez seja isso que o salva. Não domina a linguagem da ameaça, não entende o charme da intimidação, não acredita na eficácia do medo.
Quando tenta reproduzir o discurso adulto, negociar a partir de uma posição de força, soa falso, quase patético. O filme é claro nesse ponto: as fórmulas do poder são aprendidas, não naturais. E podem ser desaprendidas.
Enquanto os adultos do mundo real contabilizam guerras apaziguadas como troféus, Elio descobre algo mais simples e mais difícil: ninguém muda se não for visto.
A amizade com Glordon, filho do vilão, é o gesto político mais eficaz do filme. Não porque resolva tudo, mas porque desloca o eixo da narrativa. Em vez de inimigos abstratos, surgem indivíduos. Em vez de blocos, surgem afetos.
É impossível não pensar no contraste. Lá fora, no planeta Terra, continuamos a falar de povos inteiros como problemas, de regiões como ameaças, de jovens como riscos demográficos.
Na África, a explosão populacional é descrita como dado estatístico, raramente como vidas sem horizonte. Na Palestina, crianças são números que cabem em relatórios, mas não em decisões. Na América Latina, governos são tratados como obstáculos logísticos ao acesso a recursos.
Tudo isso é excessivamente racional, estratégico e adulto, e talvez seja justamente por isso que falha.
Fica uma inquietação difícil de ignorar na hipótese que Elio insinua: a de que uma criança poderia, efetivamente, fazer melhor. Não por ser mais inteligente, mas por ser menos cínica. Não por desconhecer o conflito, mas por ainda não tê-lo naturalizado.
Crianças perguntam por quê até a exaustão. Adultos, quando deixam de saber responder, dizem porque é assim.
O tapa-olho azul de Elio se transforma, a certa altura, em símbolo involuntário. Não de deficiência, mas de escolha: ver menos para sentir mais. Reduzir o campo de visão estratégica para ampliar o campo da empatia. Talvez o mundo precise tampar um dos olhos treinados para o domínio e reaprender a olhar com o outro, ainda imperfeito, ainda vulnerável.
No fim do filme, não há vitória total, nem paz definitiva. Há entendimento suficiente para evitar a destruição.
Talvez seja isso que mais falta às narrativas políticas contemporâneas: a aceitação de que a paz não é um estado final, mas um exercício contínuo, frágil, trabalhoso.
Crianças sabem disso instintivamente. Fazem as pazes hoje para voltar a discutir amanhã, sem transformar cada conflito em guerra identitária.
O mundo de 2026 parece decidido a repetir erros antigos com tecnologias novas. Orçamentos militares crescem, discursos endurecem, alianças se fecham como punhos.
No meio disso, um filme infantil lembra-nos algo quase indecente: falar ainda é uma opção. Ouvir ainda é uma possibilidade. E a imaginação, palavra que os adultos associam ao lazer, pode ser ferramenta política de primeira ordem.
Talvez as guerras não acabem por falta de armas mais sofisticadas, mas por excesso de certezas. Talvez não precisemos de líderes mais fortes, mas de perguntas mais simples. Talvez, no fim das contas, o mundo não precise crescer mais depressa, mas desaprender parte do que chama de maturidade.
Se um menino como Elio pode, por engano, salvar uma galáxia, talvez o nosso maior erro seja continuar a achar que só os adultos sabem o que estão fazendo.
Vanderlei Tenório é jornalista, cronista, poeta, crítico de cinema e professor de atualidades.


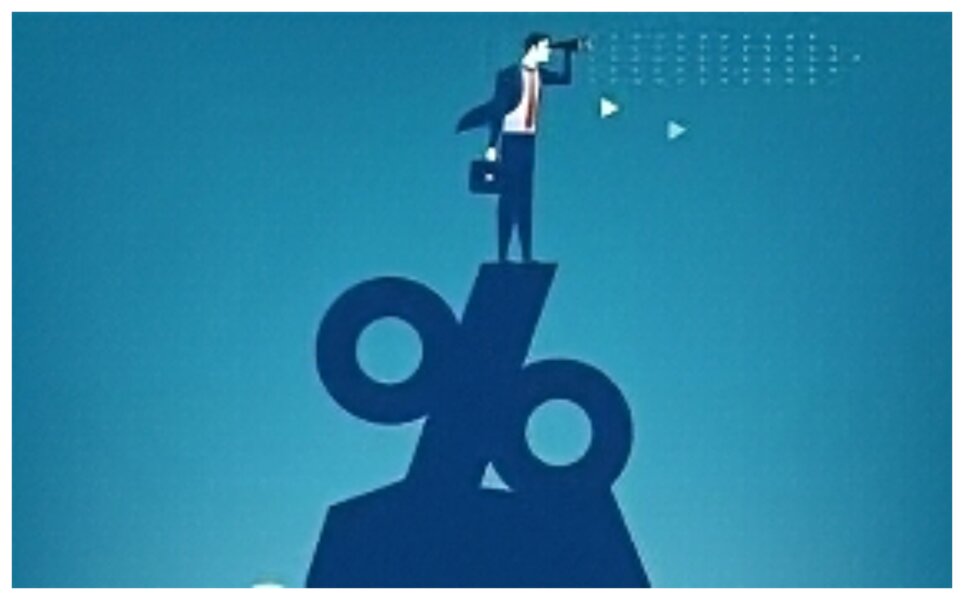


Comentários
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!