
Por uma história da Mátria Brasil
A representatividade da diversidade de mulheres na história desse país é um caminho respeitoso contra todo tipo de violência
Por Patrícia Valim*, em A Terra é Redonda
Na manhã de 7 de novembro de 1822, em Lisboa, o periódico O Brasileiro em Coimbra encerrou o editorial a favor da ruptura do Brasil com Portugal com uma carta de uma menina baiana relatando as lutas pela independência em Salvador e um manifesto intitulado “Brasileiras!”
Um dos trechos dizia: “Por acaso eu preciso dizer-vos que tomei o exemplo desta heroína baiana? Desta espartana? Mostrai que não sois tão somente fontes de prazeres e delícias! Mostrai que sois igualmente fontes de virtudes domésticas, de virtudes civis e de patriotismo! Assim excedereis os homens que injustos vos chamam de entes passivos. Sedes livres se quiseres ser mais bela! […] Sem liberdade, não só o homem, o belo sexo e seus encantos nada valem!”
Até o ano passado, a autoria do periódico e do manifesto foi atribuída a um homem pelo teor das críticas políticas e pelo fato de ter sido escrita em primeira pessoa: Cândido Ladislau Japiassú Figueredo de Mello, político e amigo de Dom Pedro I.
Dois séculos depois, sabemos que o manifesto é, na verdade, de autoria de uma menina baiana de 10 anos chamada Urânia Vanério, que também escreveu um dos mais importantes panfletos sobre a guerra pela independência do Brasil na Bahia, publicado em fevereiro de 1822, e depois uma tradução de uma novela americana chamada Triumpho do Patriotismo, em 1827.
Usar a identidade de um homem foi uma das várias estratégias que as mulheres do tempo ido utilizaram para ocupar a esfera pública e lutar por direitos. Por isso, foram perseguidas, criticadas, tiveram suas lutas questionadas e apagadas nos livros de história.
A sufragista baiana Leolinda Daltro, por exemplo, foi chamada de “mulher do diabo” na imprensa carioca em 1909 porque defendia publicamente o direito à cidadania política das mulheres: votar e ser votada.
Apoie o VIOMUNDO
Ser chamada de bruxa e feiticeira ou ser considerada uma mulher com poderes “demoníacos” foram estratégias perversas de criminalização do exercício político das mulheres do passado.
É o caso de Anésia Cauaçu. Em 1910, muito antes de Lampião e Maria Bonita, ela formou seu bando de cangaceiros para defender sua família dos ataques sangrentos de um coronel de Jequié, no interior da Bahia.
Os conflitos tomaram tal dimensão que tropas policiais foram enviadas para capturá-la, viva ou morta. O bando foi derrotado, mas disseram que Anésia conseguiu escapar porque tinha o poder de virar uma planta, conforme ela contou ao jornal A Tarde, em 1986.
Outra estratégia de apagamento das mulheres na história é diminuir suas lutas, atribuindo-as a um parente, que pode ser pai, filho, marido ou amante. Leopoldina e a Marquesa de Santos são bons exemplos, mas não são os únicos.
Hoje, conhecemos a história da professora Celina Guimarães Viana, a primeira mulher a votar na América Latina, em uma eleição que se tornou viável por meio de uma lei estadual de 1927, em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
Durante muito tempo, essa conquista foi atribuída às articulações políticas do marido, o advogado Eliseu de Oliveira Viana.
Logo depois, porém, a professora encaminhou um telegrama ao presidente do Senado, pedindo que o direito ao voto feminino fosse reconhecido no país.
Nacionalmente, o direito de uma mulher votar e ser votada foi conquistado em 1932 e reconhecido na Constituição de 1934.
No entanto, no Código Civil de 1916, uma mulher casada só poderia ter um emprego, viajar, fazer transações bancárias e votar mediante autorização do marido.
Essa tutela só terminou com o reconhecimento da igualdade de direitos e deveres entre mulheres e homens na Constituição de 1988, há 35 anos apenas.
A igualdade de gênero foi um marco importante, mas a violência contra meninas e mulheres não para de crescer no Brasil. Como a história pode ajudar a explicar e reverter isso?
Primeiro, acabando com a “invisibilidade ideológica”, que tenta apagar, silenciar e criminalizar as lutas das mulheres do passado. Não foi por falta de fontes que isso aconteceu, como mostra o início deste artigo.
É preciso querer dialogar com as mulheres do passado por meio de outros questionamentos, incluindo a violência original dos arquivos, historicamente constituídos por homens brancos e com o poder de decidir quais sujeitos e documentos seriam descartados ou preservados.
Depois, destacar os modos pelos quais as diferenças e assimetrias que as oprimiram foram construídas e como elas se organizaram e lutaram contra isso: é um ganho para a sociedade, em especial para os homens.
A representatividade da diversidade de mulheres na história desse país é um caminho respeitoso contra todo tipo de violência.
Vamos juntas, juntes e juntos construir um futuro melhor por meio de uma revisão radical do nosso passado: uma história da Mátria Brasil.
*Patrícia Valim é professora de história na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Autora, entre outros livros, de Conjuração Baiana de 1798 (EDUFBA).
Publicado originalmente no jornal Folha de S. Paulo.
Leia também:
Márcia Lucena: De macho para macho tudo fica como sempre foi; assista ao vídeo


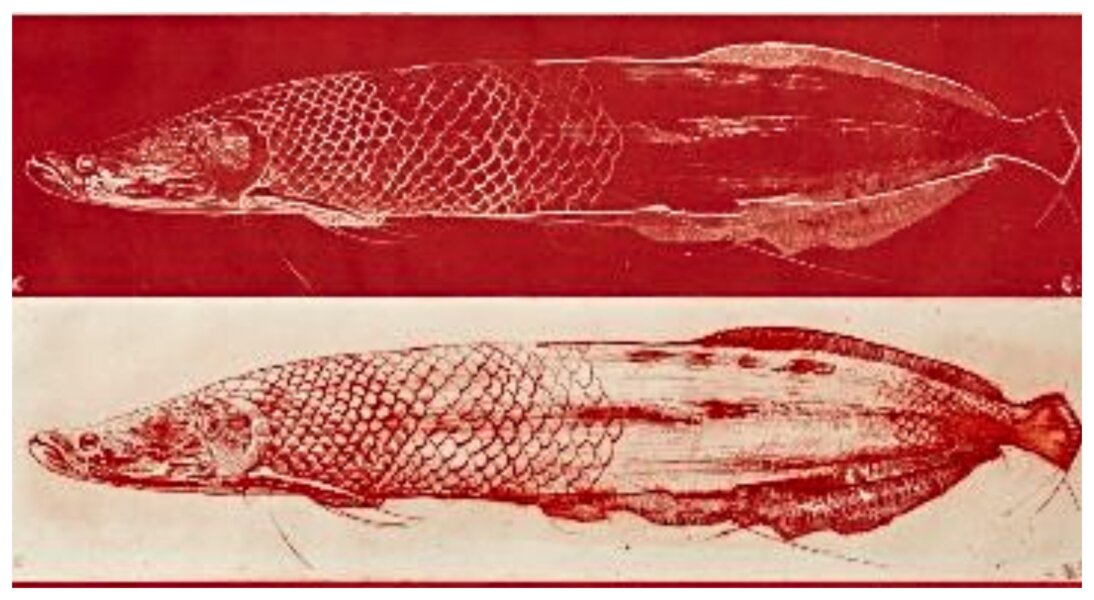

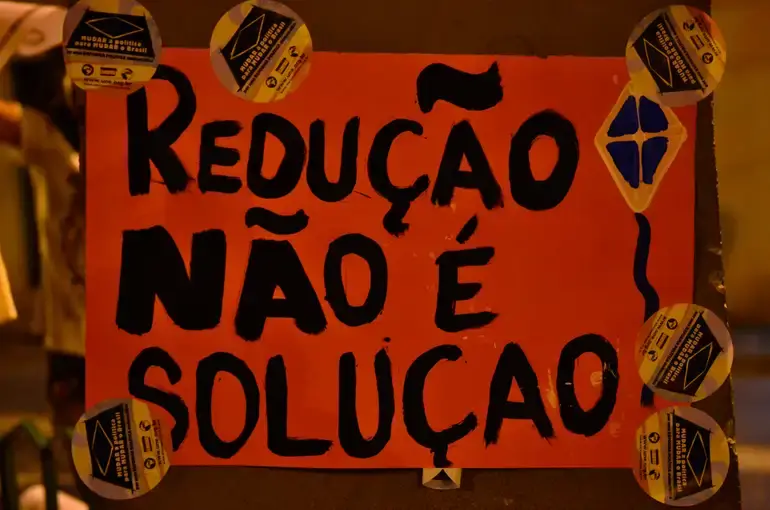
Comentários
Marília DE Dirceu
Tem gente que não se cansa de ficar correndo atrás do saco de ouro a vida inteira.
Talvez dê certo. Talvez encontre.
Marília Dirceu
Ficou correndo atrás do saco de ouro e se FUDEU.
Marília Dirceu
Parabéns mulheres pelo seu dia.
Oxalá ! todos os dias sejam das mulheres.
Zé Maria
“Cadê a Juíza?”
Magistradas negras falam sobre racismo velado em suas trajetórias
Quando Gabriela da Conceição Rodrigues e uma colega, ambas negras e juízas do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), frequentavam os fóruns da capital paulista sabiam que tinham que ter nas mãos a carteira funcional para provar que eram magistradas.
Ao entrar em estacionamentos ou elevadores exclusivos de juízes, por exemplo, elas sempre eram barradas, exceto quando davam carona para uma colega branca.
“O que vou contar não é um processo de sofrimento, mas uma constatação para ver como muita coisa precisa mudar. As pessoas não nos enxergavam como juízas”, diz Gabriela, 34, juíza de direito titular da Vara Criminal de Franco da Rocha.
Segundo ela, a reação das pessoas na sala de julgamento também é diferente quando é uma mulher negra presidindo a audiência. Gabriela afirma que colegas homens brancos relatam não ter problemas de serem interrompidos ou de haver discussão na audiência —o contrário da sua experiência.
“Eu sempre fui interrompida, porque as pessoas não enxergam em mim uma figura de autoridade. Não que eu quisesse que elas enxergassem no sentido de arrogância, porque não acho que é assim que funciona, mas, em uma audiência, eu inspiro menos respeito que um homem branco”, afirma.
Relatos assim foram comuns nas entrevistas com cinco juízas estaduais e uma magistrada federal na pesquisa de mestrado da advogada Raíza Feitosa Gomes, na Universidade Federal da Paraíba, em 2018.
A dissertação deu origem ao livro “Cadê a Juíza?” (Lumen Juris), título que vem do questionamento ouvido pelas magistradas.
Raíza, que atua no Instituto Guaicuy, afirma que há diferentes formas de lidar com o racismo imposto pela sociedade. O silenciamento, por vezes, torna-se estratégico em um espaço majoritariamente branco.
“O Brasil lida com o racismo de forma bastante problemática. Pune as pessoas que sofrem com o racismo e não quem pratica. Não falar sobre isso pode ser uma forma de resistir”, diz.
Estudo feito pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) sobre o perfil de mais de 11 mil magistrados mostrou que, entre as mulheres, as negras são 11,2% (365) das juízas titulares e 12,1% (45) das desembargadoras.
Uma das juízas ouvidas por Raíza contou a história de uma menina negra que, ao sofrer racismo na escola, tentou mudar a cor da pele com pó branco. A mãe, então, mostrou o retrato da magistrada para a garota e, depois, conseguiu marcar um encontro das duas. Dali em diante, a menina passou a dizer para todos que será juíza.
Ouvidora no TRT (Tribunal Regional do Trabalho do Paraná) da 9ª Região, no Paraná, a desembargadora Neide Alves dos Santos, 62, conta que, ao ver um juiz negro quando era funcionária da Justiça do Trabalho em São Paulo, percebeu que também poderia exercer o cargo, algo que espera despertar em outras mulheres negras.
Natural de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de SP, ela diz que fez vaquinha para se matricular na universidade e trabalhou para pagar os estudos. Formada nos anos 1980 como única negra da turma, ela afirma que o debate sobre diversidade era menos presente.
“Era muito velado. Óbvio que me impactou o fato de olhar para o lado e não reconhecer pessoas iguais a mim. Faltava e ainda hoje falta representatividade”, diz ela, que é presidente da comissão de raça e gênero da corte.
Para Neide, o padrão das decisões do Judiciário no país também reflete o perfil do homem branco heterossexual. “A gente precisa de diversidade em todos os sentidos inclusive racial para ter decisões que passem a ser mais equânimes.”
No TJ-MA (Tribunal de Justiça do Maranhão), a desembargadora Angela Maria Moraes Salazar, 64, também se deparou com esse cenário ao ingressar na magistratura na década de 1980, depois de atuar como delegada de polícia e promotora.
“Foi desafiador, porque não tinha nenhuma juíza negra como referência. Tinha brancas, mas negras não. Até hoje carrego esse desafio, porque desembargadora só tem eu de negra e a responsabilidade aumenta muito mais”, diz.
Angela terminou neste mês o mandato de dez meses como presidente do TRE-MA (Tribunal Regional Eleitoral).
Ela conta que à frente da corte implementou uma política institucional para enfrentar a violência política contra as mulheres e candidaturas fictícias. Agora, pretende se candidatar para uma vaga no STJ (Superior Tribunal de Justiça).
A presidente do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), Iris Helena Medeiros Nogueira, 65, antes de assumir a função, não participou de grupos em defesa dos direitos das mulheres ou dos negros, mas quando tornou-se a primeira mulher e negra a presidir o Tribunal de Justiça gaúcho, em 148 anos de existência, a questão racial veio à tona.
“Isso se deve a luta de muitas mulheres. Para que hoje eu desfrute disso, reconheço que é graças à luta das mulheres negras e das mulheres de modo geral, que sedimentaram o meu espaço”, afirma.
A presidente do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), Iris Helena Medeiros Nogueira, 65, antes de assumir a função, não participou de grupos em defesa dos direitos das mulheres ou dos negros, mas quando tornou-se a primeira mulher e negra a presidir o Tribunal de Justiça gaúcho, em 148 anos de existência, a questão racial veio à tona.
“Isso se deve a luta de muitas mulheres. Para que hoje eu desfrute disso, reconheço que é graças à luta das mulheres negras e das mulheres de modo geral, que sedimentaram o meu espaço”, afirma.
A desembargadora Iris Helena considera que é só uma questão de tempo para se ter uma mulher negra na função. “Estamos ocupando os espaços e que as nossas juristas negras se habilitem a estas vagas. Vamos viver essa experiência”, afirma.
Graças à atuação de anos do movimento negro e de mulheres negras, Raíza diz é mais difícil ignorar a falta de representatividade nesses espaços.
“É preciso que as pessoas brancas se responsabilizem por isso. A questão da diversidade muitas vezes é tratada de forma rasa, sem mexer no que precisa ser mudado.”
https://www.geledes.org.br/cade-a-juiza-magistradas-negras-falam-sobre-racismo-velado-em-suas-trajetorias/
Leia também:
“CADÊ A JURISTA NEGRA?”
A (não) representatividade de mulheres negras no espaço jurídico
Por
Maria Carolina Monteiro de Almeida
e
Dandara Amazzi Lucas Pinho
Página 129:
https://docplayer.com.br/196072430-Igualdade-liberdade-e-sororidade-2a-edicao.html
Zé Maria
Fraude em Terceirização entre Seguradora e Banco
.
.
Fraude na Terceirização de Serviços com Seguradora
Define Vínculo Empregatício de Trabalhadora com Banco
Assistente comercial contratada pela seguradora vendia título de capitalização do banco
No caso, esse instituto [Terceirização] foi distorcido, porque a assistente comercial, admitida pela seguradora, prestava serviços nas dependências do banco, em benefício deste.
“Há uma distorção de mercado quando um banco incorpora uma seguradora dentro de suas agências para prestação de serviços”, diz Relator
07/03/23 – A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou exame de recursos da Icatu Seguros S.A. e do Banco Citibank S.A. contra sentença que reconheceu o vínculo de emprego direto de uma assistente comercial com o banco.
As empresas sustentavam que o Supremo Tribunal Federal já declarou a licitude da terceirização de serviços, mas o colegiado destacou que foi constatada fraude na relação entre a prestadora de serviços e o banco, o que distingue o caso concreto do precedente do STF.
Vínculo com banco
Na ação, a assistente comercial, contratada pela Icatu, alegou que prestava serviços exclusivamente para o Citibank, vendendo seus títulos em agências de Campinas e Jundiaí (SP).
Ao manter a sentença que reconhecera o vínculo direto com o banco, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) destacou que o serviço da profissional era coordenado pelo gerente-geral da agência do Citibank, que cobrava metas de venda, fiscalizava os horários e recebia relatórios diários de resultados. Por outro lado, não havia supervisores ou coordenadores da seguradora na agência.
O TRT concluiu, então, que a trabalhadora desenvolvia funções tipicamente bancárias, com subordinação jurídica a seus prepostos.
Caso concreto
A Icatu e o Citibank tentaram rediscutir o caso no TST, com base no precedente do STF que considera lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas (RE 958252).
Mas, segundo o relator do agravo, ministro Evandro Valadão, essa decisão não impede que, no caso concreto, seja verificada a existência de terceirização fraudulenta e, consequentemente, a formação de vínculo com a empresa tomadora.
Autonomia
O ministro explicou que a Lei 4.594/1964, que regula a profissão de corretor, visa manter a autonomia desses profissionais, que devem poder selecionar, dentre todas as seguradoras, a que melhor atenda aos interesses dos clientes.
Segundo ele, o princípio de lealdade deve pautar a relação jurídica entre o corretor e seu cliente, e o dever de obediência a apenas uma seguradora compromete esse princípio.
No caso, esse instituto foi distorcido, porque a assistente comercial, admitida pela seguradora, prestava serviços nas dependências do banco, em benefício deste.
Assim, para o relator, a decisão vinculante do STF não se aplica a ela em razão de sua condição específica de empregada.
Além disso, ficou demonstrada no processo a sua subordinação jurídica aos gerentes do banco.
Distorção
Outro ponto destacado pelo ministro foi que a Icatu não pode estar dentro de um banco comercial vendendo seguros.
“Há uma distorção de mercado quando um banco incorpora uma seguradora dentro de suas agências para prestação de serviços”.
Essas premissas, na visão do ministro, demonstram que as empresas visaram apenas descaracterizar o vínculo empregatício, fraudando o direito da empregada e impedindo a aplicação das normas do Direito do Trabalho.
A decisão foi unânime.
Processo TST: AIRR-12082-31.2014.5.15.0131
(https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?conscsjt=&numeroTst=12082&digitoTst=31&anoTst=2014&orgaoTst=5&tribunalTst=&varaTst=&consulta=Consultar)
https://www.tst.jus.br/web/guest/-/fraude-na-terceiriza%C3%A7%C3%A3o-de-servi%C3%A7os-com-seguradora-define-v%C3%ADnculo-de-corretora-com-banco