Marco Aurélio prevê 7 a 4 contra a prisão em 2ª instância e critica Toffoli por ter derrubado liminar
Tempo de leitura: 2 min
Da Redação
O Supremo Tribunal Federal começou a julgar na tarde desta quinta-feira, 17/10, as três ADCs (Ações Declaratórias de Constitucionalidade), apresentadas pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e pelos partidos PCdoB e Patriota.
Em questão se a prisão após a condenação em segunda instância está de acordo com a Constituição Federal.
O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), é o relator das três ações.
No intervalo da sessão plenária, Marco Aurélio disse a jornalistas que prevê um placar de 7 a 4 para derrubar a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância.
“7 a 4 é o meu palpite. Não sei, como é que chegamos a sete? Eu costumo julgar os colegas por mim, às vezes sou otimista em excesso. É apenas a minha percepção, eu sempre acredito no melhor.”
Para essa previsão se confirmar é necessário que dois ministros mudem de lado.
O ministro Gilmar Mendes, que votou pela prisão após a condenação em segunda instância ao analisar um habeas corpus do ex-presidente Lula em abril de 2018, já avisou que vai migrar para a corrente “garantista”, pelo trânsito em julgado.
Na sessão de hoje, o ministro Marco Aurélio criticou o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, por ter derrubado em dezembro de 2018 a ordem para libertar presos de todo o país nessa situação.
Marco Aurélio havia concedido decisão liminar (provisória) para libertar todos os presos em segunda instância. O ministro também submeteu a decisão a futura análise pelo plenário do STF, que poderia modificá-la.
Porém, no mesmo dia, atendendo a recurso da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, Toffoli derrubou a decisão de Marco Aurélio e restaurou a validade das prisões.
Na sessão de hoje, Marco Aurélio afirmou que o presidente do Supremo não tem o poder de reformar a decisão de outro ministro, atribuição que caberia apenas ao plenário do tribunal, formado por 11 ministros.
“É inconcebível visão totalitária e autoritária no Supremo. Os integrantes ombreiam, apenas têm acima o colegiado. O presidente é coordenador e não superior hierárquico dos pares. Coordena, simplesmente coordena, os trabalhos do colegiado”, disse o ministro.
“Fora isso é desconhecer a ordem jurídica, a Constituição Federal, as leis e o regimento interno, enfraquecendo a instituição, afastando a legitimidade das decisões que profira. Tempos estranhos em que verificada até mesmo a autofagia. Aonde vamos parar”, afirmou Marco Aurélio.
O julgamento será retomado na manhã da próxima quarta-feira, 23/10, quando se manifestarão a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria-Geral da República (PGR).
A sessão plenária desta quinta-feira foi dominada por sustentações orais de entidades interessadas na causa e dos autores das três ações sobre a execução antecipada de pena – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Patriota e o PC do B.
O ministro Marco Aurélio já informou que o seu voto terá entre sete e oito páginas e duração de cerca de meia hora.
“Eu espero que todos percebam que há necessidade de se conciliar celeridade e conteúdo. Que nós temos um dever para com os contribuintes que é entregar prestação jurisdicional no prazo razoável”, observou .
Desde 2016 o STF tem autorizado a prisão antes de esgotados os recursos aos tribunais superiores.

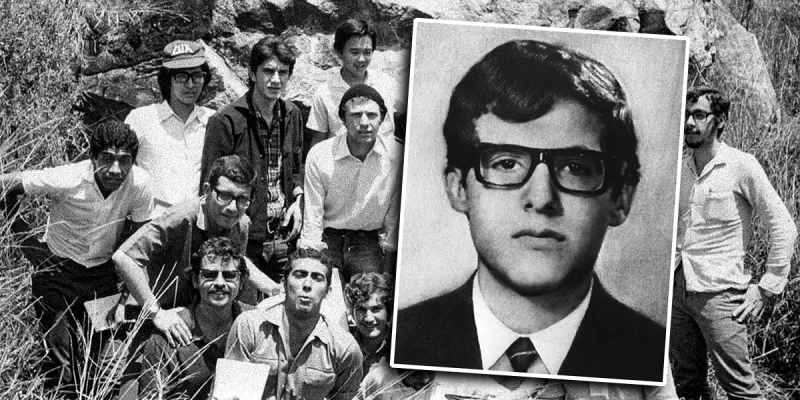



Comentários
Washington
Se for 7 a 4 então teremos 4 pessoas de caráter é 7 sem um pingo de vergonha na cara simples assim, pra economizar adjetivos a esses ……..
João Cipriano de Freitas
A demora para julgar leva ao arquivamento do processo e, assim, o criminoso, ou o bandido, se o for, fica livre. O crime compensa, deve ser colocado isto, também, na Constituição. Ko
Mas
Zé Maria
Se é pra chutar: Vai ser 6 a 5.
Para que lado, não se sabe.
E bota “Insegurança Jurídica”…
Falando nisso, responda rápido:
o que é “trânsito em julgado de
sentença penal condenatória” ?
.
SENSO INCOMUM
Imperdível: professor e juiz explicam a ‘literalidade da Constituição’
Jurista Lenio Luiz Streck, na Revista Consultor Jurídico (ConJur)
Leio, na ConJur, artigo de opinião assinado pelo professor Adilson Abreu Dallari, para quem a ‘literalidade faz da presunção de inocência uma garantia de impunidade’.
Dallari diz que um: ‘uma coisa é a aplicação correta dos direitos
e garantias fundamentais, mas outra coisa é o exacerbado “garantismo” (sic), em detrimento dos interesses comuns da coletividade’.
Será que as mais de sete centenas de milhares que formam
a população carcerária do país colocariam o garantismo
entre as mesmas aspas irônicas utilizadas por Dallari?
Creio que não.
Aliás, colocar aspas no garantismo aproxima o texto de Dallari
a qualquer manifesto do tipo ‘contra a bandidolatria’.
Não quero crer que a intenção do ilustre Professor tenha sido essa.
O artigo de Dallari requenta argumentos como o de que
o artigo 5º, LVII da Constituição Federal impediria qualquer
tipo de prisão cautelar, o que por si representa erro crasso
de dogmática processual penal;
outro argumento é de senso comum: diante de um cenário
de impunidade, o princípio da presunção de inocência
teria sido transformado em uma ‘presunção de impunidade’.
Ora, sobre o primeiro ponto: a boa dogmática já deixou claro,
há muito, que prisão cautelar não é pena antecipada.
Com relação ao segundo, eu poderia, aqui, fazer a mesma
pergunta que fiz ao professor José Eduardo Faria em recente
coluna: ‘há excesso de garantias, diz professor. O que dirão os 750 mil presos?’
Recomendo a leitura para quem quiser saber o que tenho a
dizer sobre esse Processo Penal 3.0 reivindicado por juristas
como Dallari, Faria, Moro, Gimenes* (logo verão porque falo
desse juiz)*, etc.
É isso. Será que as mais de sete centenas de milhares que formam a população carcerária do país colocariam o garantismo entre as mesmas aspas irônicas utilizadas por Dallari? Creio que não. Aliás, colocar aspas no garantismo aproxima o texto de Dallari a qualquer manifesto do tipo ‘contra a bandidolatria’. Não quero crer que a intenção do ilustre Professor tenha sido essa.
Muito já foi dito sobre isso tudo. Por mim e por tantos outros. Por isso, hoje, quero demonstrar por que a tese de Dallari é inconsistente. E, pior, é um sintoma de como setores do Direito flertam com o autoritarismo e secundizam direitos fundamentais. Se é assim que os professores ensinam Direito pelo Brasil afora, transformando-o em uma frágil teoria política do poder, não pode nos surpreender o pensamento reacionário que vem sendo forjado. A ConJur é um exemplo desse fenômeno no espaço dos comentários. Jovens e velhos com traços comuns: o reacionarismo e o discurso raivoso contra quem defende garantias. E até mesmo a criminalização da advocacia.
Vejamos as fragilidades do artigo de Dallari. O professor diz que o papel do intérprete, cujo trabalho seria “instrumental”, “deve estar voltado para a busca da solução mais adequada e mais justa dos problemas suscitados” (grifos meus).
Assim, Dallari, além de
(i) incorrer no velho erro da cisão entre interpretação e aplicação, dá a entender que
(ii) não é apenas aceitável, mas desejável, que o Direito seja visto a partir de um olhar pragmático, teleológico.
Também (iii) acredita na discricionariedade: se a decisão judicial deve buscar a solução mais adequada, a solução mais justa, isso quer dizer que a posição pessoal do julgador vale mais do que o Direito. Ou seja, para ele, o intérprete escolhe. E, assim, não dependemos do Direito. Dependemos do “intérprete que faz uma adequada instrumentalização”.
Para começar, eu não acredito “na escolha” da solução mais adequada. E “adequada” para quem? Acredito em uma resposta baseada em critérios a partir dos quais a decisão jurídica respeite o direito fundamental do cidadão a uma resposta adequada à Constituição.
Sigo. Interpretação “instrumental”? Dallari, claramente, admite que o intérprete atribua sentido ao texto, arbitrária e livremente. Aliás, essa postura não é privilégio de professores como ele. Isso se espalha dia a dia, incentivando a correção do Direto por argumentos morais. Para dizer o mínimo. Despiciendo ter que dizer que norma não significa texto (Müller); mas tampouco dele pode ser descolada quando se interpreta (Streck), a não ser se estamos diante de inconstitucionalidade (ver as seis hipóteses aqui: https://www.conjur.com.br/dl/seis-hipoteses-lenio-streck.pdf).
Ainda assim, para fins de argumentação, partamos
do pressuposto de que o professor está certo e que, sim,
a interpretação é “instrumental”, e, através desse “instrumento”,
o intérprete escolhe uma das possíveis respostas.
Pois bem. Se a atribuição de sentido é livre, também fica a cargo
do intérprete dizer o “que é isto — a escolha mais adequada”.
Mas, o que é isto “a solução mais justa”?
Há um justômetro?
Bem, para o professor paulista, fica a cargo do intérprete, pois não?
Esqueçamos, pois, a autoridade da tradição, do texto,
e o standard de racionalidade do Direito.
É “mais justo” que o réu vá para a
Mas, e se eu disser o contrário?
Dallari parece esquecer que, quando a atribuição de sentido é livre e não há resposta certa, o contrário pode ser dito com base no mesmo fundamento. É a institucionalização de um humptydumptysmo jurídico: dou às palavras o sentido que quero. Resultado disso? O caos. Um estado de natureza epistêmico.
O que é mais justo: prender ou soltar? A resposta é moral ou jurídica, professor? Se o padrão epistêmico que constrói a argumentação de Dallari estiver correto, tanto faz. Porque, sem critérios, qualquer coisa pode ser dita sobre qualquer coisa. A racionalidade por trás do argumento do articulista permite que o julgador decida como bem entender, algo como “decido conforme minha consciência”. Na sua tese, buscar o “justo” é “ousar” na interpretação. Mas, para qual o lado? É uma questão lógica, e é por isso que sua tese já nasce derrotada… embora devemos reconhecer que a maioria da comunidade jurídica pensa como o professor Adilson Dallari. Talvez seja por isso que menos de 1% dos recursos sejam acolhidos no Superior Tribunal de Justiça. Ou que ainda se inverta o ônus da prova. Bom, aqui o leitor complementa.
Parte II: a favor da literalidade e contra as garantias
*Leio, também na ConJur, uma crítica, direcionada a mim, por parte do juiz federal José Jácomo Gimenes. Texto elegante. Para ele, se a Constituição diz que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado”, disso não se segue que a pena antecipada fere a Constituição. Isso porque, para ele, a Constituição não fala “ninguém será preso até o trânsito em julgado”. Despiciendo, de pronto, apontar os erros processuais-penais na assertiva. Há uma diferença entre prisão decorrente de pena e prisão cautelar.
Um argumento similar foi utilizado pelo ministro Roberto Barroso, quando do julgamento do HC 126.292. Disse, à época, Barroso que “[…] a Constituição brasileira não condiciona a prisão — mas sim a culpabilidade — ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O pressuposto para a privação de liberdade é a ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, e não sua irrecorribilidade.”
Desnecessário comentar o textualismo ad hoc. Os argumentos, a partir de qualquer perspectiva, soam-me algo como “veja bem, você ainda não é considerado culpado, mas vai passar a cumprir a pena desde já ainda assim. Lo siento.” Presunção de inocência para quê, não é mesmo?
Mais: a partir desse raciocínio, parece que qualquer prisão é legítima, independentemente de motivação cautelar. Basta uma decisão escrita e fundamentada… em qualquer razão. Toda essa fé na “vanguarda iluminista” parece-me sobrepor o Judiciário ao legislador.
Essa crença absoluta no poder dos juízes é outro ponto compartilhado por Gimenes e Barroso, como como se vê, respectivamente, no texto de Gimenes e no voto de Roberto Barroso na ADC 43 (que visava à constitucionalidade do artigo 283 do CPP).
Senão, vejamos. Em face do artigo 283 do Código de Processo Penal,[2] que fala, este sim, em “prisão”, o juiz Gimenes argumenta que “a redação do mencionado artigo 283 decorreu da interpretação do Supremo em 2009” e, por isso, “se o Supremo voltou a antiga tradição [sic], reconhecendo a possibilidade de prisão após segundo julgamento, a redação do artigo 283, dependente da interpretação decaída, deve ter o mesmo destino, por contrariar a Constituição explicitada pelo Supremo”. Foi o que entendeu Barroso, ao, pelas mesmas razões, dizer que o dispositivo deve ser interpretado conforme a Constituição (que, para Gimenes e Barroso, autoriza a prisão em segunda instância). O que Gimenes esqueceu? Simples: esqueceu que o STF não poderia voltar à sua velha posição. E sabem por que? Porque o legislador já legislara sobre isso. Bingo. E ainda há uma separação de Poderes no que resta da República.
Ou seja: para Gimenes, o Supremo decidiu assim, e pronto. Pois bem. Só que o STF errou. Aqui falta o “fator Julia Roberts” (aqui: https://www.conjur.com.br/2012-out-25/senso-incomum-fator-julia-roberts-ou-quando-supremo-erra).
Por trás da tese de Gimenes está o velho realismo jurídico:
o direito é o que o judiciário diz que é.
Esse vírus do realismo retrô parece o Jason da série Sexta-feira 13.
Ele volta. E volta…
Íntegra: https://www.conjur.com.br/2018-mar-01/senso-incomum-imperdivel-professor-juiz-explicam-literalidade-constituicao
.
.
Do mesmo autor, leia também:
O Literalista e o Voluntarista diante dos Cães na Plataforma
https://www.conjur.com.br/2019-out-03/senso-incomum-literalista-voluntarista-diante-caes-plataforma
https://www.conjur.com.br/secoes/colunas/senso-incomum
Zé Maria
SENSO INCOMUM
“Há excesso de garantias, diz professor.
O que dirão os 750 mil presos?”
“Em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo, o professor Faria
explica e justifica o estado da arte do processo penal brasileiro.
Na verdade, muito mais justifica ‘as novas práticas’ do que
as explica no plano daquilo que se pode chamar de Estado
Democrático.
Sim, porque, quer queira, quer não queira — e não precisamos
discutir se isso é bom ou ruim (e seria, ainda, de perguntar
‘bom’ ou ‘ruim’ para quem) —, a sociologia ou o realismo jurídico
(o professor faz uma ode ao realismo e ao ‘common law’)
ainda não podem revogar as garantias constitucionais.
O advérbio ‘ainda’ é justificado. Se no Brasil até o passado é incerto, o que dizer das garantias constitucionais”.
Por Lenio Luiz Streck, na Conjur
Conheci o professor José Eduardo Faria no final dos anos 80
e me tornei seu admirador.
Nos anos 90, fizemos palestras juntos.
Ele era, então, um dos ícones da crítica do Direito.
Sob outra perspectiva, trabalhei muito sua “crise de paradigmas” em vários livros.
Lembro de um exemplo, não sei se dele ou meu, sobre invasão
de terras: quando uma pessoa invade uma propriedade,
é esbulho; mas se milhares de pessoas invadirem e o Judiciário
tratar disso como esbulho, o caos estará instalado. Eis a crise.
A obra do professor é vasta. Impossível elogiá-la e descrevê-la
em pequeno espaço.
Passam tantos anos e vem a discordância. Forte. Explico.
Em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo, o professor Faria
explica e justifica o estado da arte do processo penal brasileiro.
Na verdade, muito mais justifica ‘as novas práticas’ do que
as explica no plano daquilo que se pode chamar de
Estado Democrático.
Sim, porque, quer queira, quer não queira — e não precisamos
discutir se isso é bom ou ruim (e seria, ainda, de perguntar
‘bom’ ou ‘ruim’ para quem) —, a sociologia ou o realismo jurídico
(o professor faz uma ode ao realismo e ao ‘common law’)
ainda não podem revogar as garantias constitucionais.
O advérbio ‘ainda’ é justificado. Se no Brasil até o passado é incerto, o que dizer das garantias constitucionais.
O realismo jurídico[1] pode até ser apresentado como uma tese
que poderia representar um atalho nos processos de garantia. Na verdade, na entrevista o professor se refere a uma espécie
de análise econômica do direito penal.
Não sei se realismo e análise econômica do direito penal
estão assim (bem) casadas.
Nos lugares do common law, os réus têm, também, muitas
garantias constitucionais. E que são respeitadas.
Não são as mesmas daqui. Como não são as mesmas garantias
que existem na Alemanha, França ou em Portugal.
Mas o núcleo é equivalente.
Diz o professor que “não houve uma renovação do pensamento
penal brasileiro nas universidades, que ficaram encasteladas
e presas a doutrinas superadas, com um viés que nós podemos
chamar de romano-germânico — bastante litúrgico, cheio de
entraves burocráticos, cheio de sistemas de prazos e recursos
que permitiam aos advogados discutir não grandes questões
factuais mas sim teses, pleitear vícios, aguardar que tais pleitos
fossem julgados lentamente e, assim, obter a prescrição dos
crimes dos seus clientes”.
E acrescenta: “É essa a história do conflito geracional e das
visões do Direito que nós estamos vendo hoje, e são poucas as
faculdades de Direito com professores preocupados em mostrar
aos alunos esse confronto entre duas arquiteturas jurídicas —
uma romano-germânica, tradicional; outra de corte anglo-saxão,
atrelada aos mecanismos de controle de uma economia
globalizada”.
Veja-se que, a todo momento, no discurso do professor,
está presente essa dicotomia do “romano-germanico” ruim
e o “common law” bom.
Mas seria uma dicotomia que vale só para o Brasil?
Valeria para a Espanha? Para a Alemanha?
Visivelmente, na entrevista, percebe-se uma ode às análises econômicas do Direito e seus correlatos.
Fica claro que o processo penal não passa de um obstáculo
à consecução dos objetivos de um padrão/objetivo econômico
a ser seguido por quem está no poder, desde que este conduza
a economia de acordo com a globalização. Ou li mal?
O que mais me chamou a atenção, entretanto, foi este
fragmento da entrevista:
“Quando alguém diz que não há provas, quer isto dizer que
não haveria provas do ponto de vista de uma leitura germano-
românica do direito penal econômico”.
E, com esta frase, o professor Faria justifica a atuação
dos julgadores do TRF-4 e do juiz Sergio Moro
(e dos procuradores).
O que o professor Faria propõe — e justifica — é que existe
“uma mudança no conceito de prova, uma mudança no
conceito de processo e uma mudança no conceito do próprio
delito”.
Deixa eu ver se entendi.
Parece que prova não é (mais) a prova provada/demonstrada.
Prova é aquilo que a superação do “sistema romano-germânico”,
via commonlismo e um processo penal 3.0 (ou 4.0 ou
alguma velocidade desse quilate), diz que é.
Assim, se alguém diz “não há provas”, a resposta do direito 3.0
será “não há provas vírgula, porque, do ponto de vista do direito
penal econômico anglo-saxonizado, elas existem.
Basta querer vê-las”.
Resumindo: prova é teleologia.
É a volta do inquisitivismo, algo do tipo “sei o resultado
e depois busco a prova”.
E se tiver um atalho ainda mais curto, como a delação premiada,
facilitam-se as coisas.
Para quem? Os fins justificam os meios.
Prova não é mais algo que tem de ser demonstrado.
Prova é algo “útil” (eficiente) ao establishment jurídico
para satisfazer seu plano de poder. Simples assim.
Não é por nada que o professor investe duramente contra
o garantismo processual penal.
Traduzindo: quem é garantista defende um modelo indevido
e retrógrado de garantias.
Em tempos de direito 3.0, os garantistas continuam com um
direito 1.0.
Não quero ser injusto, mas senti no discurso também algo
que indica que as garantias do direito “garantístico” ‘não são
boas para a economia’, circunstância que se pode aferir
a partir de uma espécie de análise econômica do direito penal.
Portanto, a Constituição do Brasil é ‘atrasada’.
Por fim, outra crítica dura — dentre tantas feita pelo professor
titular da USP — dirige-se contra o STF.
Arrasadora. Mas sempre com foco na formação dos juízes.
Como se uma pós-graduação resolvesse.
Ou se isso ocorrer por efeito de mudarmos os juízes.
Ou se encurtarmos os prazos e diminuirmos recursos.
Ou se incorporarmos a velocidade do common law.
Um parêntesis: Nesse sentido, há algo em comum entre
os professores Faria e Boaventura de Sousa Santos,
da Universidade de Coimbra, que também caiu nessa armadilha,
em 2009, ao dizer que, em Portugal, o processo Casa Pia poderia
ser resolvido mais rapidamente se juízes tivessem mais poder,
isto é, se não tivessem tantos prazos e garantias a favor dos réus. Veja-se como a esquerda também cai nessa, por vezes (observe-se
a ironia: o professor Boaventura foi e é crítico dos procedimentos
da “lava jato”).
Como se cumprir o protocolo processual fosse coisa ruim.
Até compreendo que sociólogos digam isso, mas juristas
não deve(ria)m fazê-lo. Na minha modesta opinião.
Fecho o parêntesis e sigo.
A questão que não foi enfrentada — e não tem sido enfrentada
pelos críticos do Direito — é a da tradição da dogmática jurídica
que, no fundo, sempre fez o que o professor José Eduardo Faria
prega nessa entrevista.
Peço calma, porque explicarei:
Na prática, o Judiciário sempre fez análise econômica do Direito
ou algo sem nome, mas que se aproxima disso, teleologicamente.
É por isso que se tem 750 mil presos, dos quais 350 mil
são provisórios.
E veja-se que esse número vem aumentando.
Isso é o quê? O sistema atual de provas e recursos, criticado
pelo professor, não tem evitado tantas condenações e prisões.
Por que será?
Ou seja: se o professor critica o garantismo e o atual sistema
de prazos e recursos, por que isso não funciona a favor dos pobres?
Desde os anos 90 falo da crise do Direito Penal, citando uma
frase que repeti muito por este país afora:
“La ley es como la serpiente; sólo pica a los descalzos”
(frase de um camponês de El Salvador, referida por “de La Torre Rangel”).
Mas, então, o que mudou? A resposta parece ser:
o “excesso de garantias” criticado não é tão garantidor assim,
pelo menos se se trata da patuleia.
O que há de novo, então?
Simples: Agora bateu às portas da sociedade brasileira
a falta (e não o excesso) de garantias — ou seja, a análise
teleológico-econômica — para o andar de cima.
Eis a questão. Eis uma isonomia processual às avessas.
Vou exemplificar o modo como, para o andar de baixo,
o Direito sempre foi sem garantias, sem direção hidráulica
e sem bancos de couro.
Bom, só o número de condenados e presos já demonstra isso.
Mas vamos lá: o que é mais “rápido e eficiente” tipo “análise
econômica do direito penal” do que condenar procedendo
à inversão do ônus da prova?
Sabe o Professor que todos os Tribunais estaduais e, de certo
modo, o STJ (HC 348.374/SC) ainda aplicam essa inversão aos
delitos de furto e de tráfico de entorpecentes?
O Professor sabe que também se faz prova de ofício contra
o réu (STJ RHC 58.186/RJ)?
E o que dizer das nulidades, que, sob o crivo da livre apreciação
das provas (sim, isso ainda existe), ainda podem ser descartadas
sob o argumento de que “são relativas” (por todos, o HC 103.525,
do STF, sobre o qual já escrevi algumas vezes), sendo que
somente em 2017 — 10 anos depois da alteração do CPP —
o STF dá sinais de que a literalidade do artigo 212 deve ser cumprida?
O processualista Eduardo Fonseca Costa denuncia
magnificamente bem esses “standards” “novos”
e a neoflexibilização dos procedimentos (ver aqui: https://emporiododireito.com.br/leitura/abdpro-20-um-reclamo-aos-processualistas-civis-um-alerta-aos-processualistas-penais).
Mais algumas indagações:
será que esse “standard anglo-saxónico” de prova, elogiado
pelo professor Faria, poderia ser aplicado também aos processos
em tramitação no Carf, onde bilhões da viúva “se arrastam”
e por vezes, “morrem na burocracia”, ou esse novo “standard”
só se aplica ao “novo processo penal”?
Esse “standard anglo saxônico” poderia ser aplicado pelo Fisco
para executar os débitos nascidos de sonegações dos bancos
e outras instituições financeiras (habituais frequentadores do
Carf, segundo diversas matérias da grande imprensa),
que como se sabe, usam todos os instrumentos garantistas
para tentar se desenvencilhar dos débitos?
Ou para os crimes fiscais (no Brasil, furtar é mais penoso
do que sonegar tributos, porque o establishment trata melhor
ao sonegador do que ao furtador)?
Veja-se: não, não estou dizendo que os bancos não devam usar
os instrumentos garantidores.
Como garantista, seria contraditório de minha parte.
Minhas perguntas são apenas consequência do novo standard
de prova que começa a ser defendido publicamente e praticado
no processo penal brasileiro para o andar de cima.
Despiciendo registrar que a História do Brasil forjou-se
com séculos de encarceramento de membros do andar
de baixo.
Eventualmente um pródigo, o lúmpen da burguesia, era pego
no alçapão judiciário.
Nos golpes militares, havia sempre a exceção:
membros das classes altas também eram aprisionados.
Neste último caso, as garantias terminavam por ser preservadas
por alguns ministros corajosos do STF ou do STM.
Mais recentemente, e essas não são palavras minhas,
o encarceramento de poderosos só ocorre quando há guerras
entre VIP’s das classes dirigentes (créditos devidos por essas
ideias a Eugenio Raúl Zaffaroni).
Defender as garantias, independentemente da classe social
do réu, deveria ser uma função da dogmática, de esquerda
ou de direita.
Defendê-las é afirmar a Constituição.
Infelizmente, muitos do povo preferem idealizar uma justiça
que prende VIP’s como uma Justiça igualitária e eficiente.
Na verdade, ela apenas revela que ninguém está a salvo.
Nem a própria lei.
No fundo, arrisco a dizer — com todo o respeito ao professor
que tanto li e citei em textos e livros (do qual continuo
admirador confesso, porque teve muita importância na minha
formação) — que, assim dito como está na entrevista (sim, sei
que entrevistas não pegam tudo), parece existir um discurso
que chancela academicamente o arbítrio judicial, só que agora
chamando pomposamente de “nova concepção do direito penal
econômico” — o que não passa de uma violação da Constituição.
Não acredito, olhando a história do professor, que ele creia,
sinceramente, que as práticas do juiz Moro sejam condizentes
com o devido processo legal vigente na maioria dos países
democráticos.
Aliás, nesse sentido, permito-me acrescentar, sempre
lhanamente: o professor Faria, idealiza, para caber no seu
argumento, um processo penal que desconsidera a própria
história institucional do common law norte-americano,
que não prescinde jamais de uma Constituição escrita e
de uma forte legislação federal em matéria processual.
Aliás, é de lá, da tradição do common law, que vem a expressão
“due process of law”, compreendida como um sistema
de garantias!
É de lá, do direito norte-americano, que vem o paradigmático
precedente dos direitos reconhecidos pela Suprema Corte
no caso Miranda v. Arizona: (https://supreme.justia.com/cases/federal/us/384/436).
Minha pergunta: O que as garantias de Miranda têm a ver
com o quadro pintado pelo eminente professor?
Respondo: As garantias de Miranda, fielmente aplicadas
no Brasil, fariam uma diferença enorme, principalmente
para os condenados do andar de baixo.
Não sobraria a metade dos presos. E nem vou falar de como
Miranda e outros precedentes que conformam o due process of law
relacionar-se-iam com o juiz Moro.
Nem vou falar das conduções coercitivas que Moro institucionalizou.
Insisto: common law não é assim.
Trago uma frase de lá, que me dá razão, para exemplificar.
Imaginemos que “um assassino é flagrado com sangue
em suas mãos, curvado sobre o corpo de sua vítima;
um vizinho, com uma câmera, gravou o crime e o assassino
confessou, por escrito e em vídeo”.
Lá, nos EUA, “para que o Estado possa punir o malfeitor, deve
conduzir um processo criminal formal, completo, detalhado,
a partir do qual resulte um veredito de culpa.
É isso que faz que um Estado seja governado por leis e não por homens”.[2]
Sabem de quem é a frase? Antonin Scalia.
Ex-Justice da Suprema Corte Norte-Americana, ícone do
pensamento conservador e do movimento textualista,
em relação a quem tenho uma série de ressalvas, ferrenho
adversário teórico de Ronald Dworkin.
Para encerrar, não quero crer que o professor e jurista
José Eduardo Faria concordaria com uma assertiva desse
quilate:
“Essa ‘prova acima de uma dúvida razoável’ importa no reconhecimento da inexistência de verdades ou provas
absolutas, devendo o intérprete/julgador valer-se dos diversos
elementos existentes nos autos, sejam eles diretos ou indiretos,
para formar sua convicção.”
Essa passagem é do voto do desembargador Gebran Neto, do TRF-4.
Os grifos, é claro, são meus.
O entendimento de que inexistem verdades ou provas absolutas, é claro, é dele.
A tese sobre “dúvida razoável” contra o réu também é dele (e de Moro).[3]
Não subscrevo essas teses autofágicas e, como disse, creio
(quero crer) que o professor José Eduardo Faria tampouco.
Ainda, numa palavra: se o professor leu o acórdão do TRF-4
do caso Lula — que é o mote desse novo standard
anglo saxónico de prova — terá visto que, no item 9 da ementa,
consta que, nesse novo padrão, não é razoável exigir-se isenção
do Ministério Público.
Será esse o “novo” de que tanto falam?
Quem aceita ser acusado e processado por uma instituição
que não possui isenção?
Vejam: Foi o TRF-4 que disse. Com essa novidade,
nem o Ministério Público pode concordar. [4]
Afinal, se tem as mesmas garantias da magistratura,
não é garantia do réu ter um MP que trabalha de forma isenta
e imparcial?
Penso que o MPF fará duros, candentes e vigorosos embargos
de declaração ao acórdão, para que isso fique claro.
Ou deixará assim?
[1] Em resumo, é uma tese empirista segundo a qual o Direito é simplesmente aquilo que os Tribunais dizem que ele é. Dessa premissa, segue-se que o que importa é prever como os juízes vão decidir, e eis tudo.
[2] SCALIA, Antonin. A Matter of Interpretation. Princeton: Princeton University Press, 1997, p. 22.
[3] Essa história da utilização do art. 66, 3, do Estatuto de Roma para justificar um novo standard (sic) é uma leitura “sergiomorona”. “Prova acima de uma dúvida razoável” é absolutamente retórico. Isso tem nome: transferência da prova objetiva para a “consciência do juiz”, o que nada mais faz do que retroceder ao inquisitivismo. Enfim, filosofia da consciência na veia. Se, para punir, precisamos abrir mão da prova, é porque fracassamos. Simples assim.
[4] Aqui vai um recado ao Ministério Público. Como assim, “não é razoável exigir-se isenção do Ministério Público”? Leio, aqui e ali, manifestações públicas do MP ou de seus membros com referências “às magistraturas”. Quais magistraturas? “A magistratura judicial” e a do Ministério Público. Eu acho bom. Acho ótimo. Aplaudo. De fato, defendo de há muito que o Ministério Público é uma magistratura. O membro do MP é um magistrado sobre o “parquet”, pois não? Não por acaso, o §4º do art. 129 da CF diz que se aplica ao Ministério Público, “no que couber”, o disposto no art. 93, que cuida do Poder Judiciário. “No que couber” – não há muita gente se dando conta desta ressalva.
Estou sendo muito sutil? Então vamos lá: Está na hora de o MP (que ora me quer perto, ora me quer longe – mas que não deixa de ser a minha casa) decidir se quer ser composto por “promotores públicos 2.0” ou por membros de uma magistratura. Independente, equidistante, imparcial e… isenta! Se não posso exigir “isenção” de um membro do MP, que tal contratarmos advogados para produzir acusação? Olha que boa “anglo-ideia”, pois não? Aliás, à margem: fui um dos primeiros a apontar a inconstitucionalidade da figura do assistente de acusação…! Portanto, o MP deve escolher entre fazer agir estratégico e comportar-se como advogado acusador ou de uma magistratura em pé, que trabalha com isenção e com fairness.
https://www.conjur.com.br/2018-fev-15/senso-incomum-excesso-garantias-professor-dirao-750-mil-presos
José alves
Um STF cheio de corruptos vamos esperar o quer de um sujeito desse.
Arvelos
Num país civilizado a punição vem depois da condenação definitiva. O Brasil anda ao contrário da restante humanidade e assim só pode desembocar na barbárie.
lulipe
Mentira. Em grande parte dos países civilizados a punição ocorre no máximo até a 2ª instância, nos EUA, por exemplo, já acontece após a 1ª. Caso alterem a situação atual teremos mais casos como o de Maluf e Luiz Estevão que passaram a vida recorrendo e vendo seus crimes prescreverem. Só foram presos após a mudança para condenação em 2ª instância. O Estevão já tinha entrado, pasmem, com 48 recursos. Mas o que se esperar dos esquerdopatas, defensores habituais da impunidade???
LULIPE
E viva a impunidade!!!
a.ali
tenho TODAS as dúvidas do mundo…
Deixe seu comentário