“A nova estratégia do Pentágono só conseguirá, afinal de contas, nos fazer andar mais depressa para um mundo de antiamericanismo cada vez intenso e de cada vez mais violência.” Michael T. Klare
por Michael T. Klare, The Nation
Quase sem fanfarra, o Departamento de Defesa anunciou uma revolução na estratégia militar – uma transformação no quadro global e nas táticas de combate, cujo único real precedente foi a mudança, que também causou susto, arquitetada pelo secretário de Defesa Robert McNamara durante o governo Kennedy. Então, como hoje, um governo recém empossado herdava estratégia pesadíssima, pensada para guerra de alta intensidade, contra inimigos bem equipados, sobretudo na Europa e na Ásia; hoje, como então, a resposta foi redirecionar a atenção do Pentágono para combates de baixa intensidade nas franjas do mundo em desenvolvimento. Naquele momento, o resultado foi o Vietnã; hoje, é o Afeganistão; e um número ainda desconhecido de “futuros Afeganistões”.
Quando Kennedy assumiu a presidência em 1961, o Departamento de Defesa era governado por uma ‘postura’ militar que enfatizava a guerra nuclear e as massivas batalhas de tanques nos campos da Europa. Sentindo que o principal teatro de disputa entre as superpotências mudara-se para Ásia, África e América Latina, Kennedy ordenou que McNamara promovesse uma massiva adaptação das capacidades de combate dos EUA ao que se chamava naquele momento “brush-fire wars” [“guerras de quintal”, literalmente, “guerras de fogueiras no mato”] no Terceiro Mundo. O presidente também autorizou vasta expansão das Forças Especiais – então, uma unidade pequena e obscura do exército, para pequenas operações locais por trás das linhas soviéticas na Europa Oriental – e encarregou-o de criar e promover um conceito ‘última moda’ de guerra antiguerrilhas [ing. counterinsurgency].
“A guerrilha subversiva é outro tipo de guerra, nova na intensidade, velha nas origens – guerra de guerrilheiros, subversivos, insurgentes, assassinos; guerra de emboscada, em vez de combate; por infiltração, não por agressão” – disse Kennedy em discurso na Academia em West Point, em 1962. “A guerrilha subversiva exige, sempre que a tenhamos de conter (…), estratégia completamente nova, outro tipo de força e, portanto, tipo completamente diferente de treinamento.”
O feroz apoio que Kennedy deu à doutrina da antiguerrilha levou à expansão do envolvimento dos EUA no Sudeste da Ásia e, por fim, condenou os EUA ao desastre sem remissão que foi o Vietnã. Imediatamente depois daquele desastre, os militares dos EUA em larga medida abandonaram completamente a preocupação com a guerra antiguerrilha, por medo, talvez, de despertar o espectro de Che Guevara de 1967 e seus “dois, três, mil Vietnãs”. Em vez daquilo, escolheram focar uma espécie de guerra-fria requentada na Europa; e depois, na presidência do primeiro Bush, dedicaram-se ao combate convencional contra “rogue States” [estados-bandidos] como Irã, Iraque e a República Popular Democrática da Coreia [“Coreia do Norte”], reciclando, basicamente, as táticas desenvolvidas para combater os exércitos soviéticos.
Embora tenha prometido que modernizaria sua postura depois do 11/9, o segundo presidente Bush só fez enxertar sua “guerra global ao terror” na guerra contra “os estados-bandidos”, e mandou invadir o Iraque, em vez de mandar que se inventasse nova estratégia, dessa vez especificamente para combater a guerrilha dos islâmicos radicais.
Agora aí estão o presidente Obama e seu autoritário secretário da Defesa Robert Gates, ambos, a criticar a ênfase que o Pentágono tem dado ao combate convencional, à custa da guerra de baixa intensidade. O Iraque, disse Obama, foi “guerra errada”, desvio da tarefa muito mais urgente de destruir a Al-Qaeda e sua rede de aliados, incluídos aí os Talibã afegãos e os Talibã paquistaneses. Para corrigir esse tropeço estratégico, como o vê, Obama passou a redirecionar recursos de combate, do Iraque para o Afeganistão. Mas isso é só o começo de sua grande ‘visão’: Obama quer modelar uma nova postura militar, que deixe de lado a ideia de combate convencional e reforce as soluções de combate à guerrilha e táticas (e treinamento) para “guerras de fogueiras no mato”.
“A luta contra o extremismo violento não terá fim rápido, e avança além do Afeganistão e Paquistão. Será dura prova pela qual terá de passar nossa sociedade livre e nossa liderança planetária. E, diferente dos grandes conflitos e das claras linhas de divisão que se viram no século 20, nosso esforço envolverá regiões tumultuadas, sem ordem, Estados falidos, inimigos difusos” – disse Obama, dia 1º de dezembro, em West Point[1]. “Diferente dos conflitos entre superpotências, com linhas claras de divisão que sÍ ?o características do século 20, teremos de lutar em regiões desordenadas, estados fracassados, contra inimigos difusos.” Para vencer essas lutas, “teremos de ser ágeis e precisos no uso de nosso poder militar. Onde Al-Qaeda e seus aliados tentarem por o pé – seja na Somália ou no Iêmen, ou onde for – lá terá de ser combatida com pressão sempre crescente e por parcerias fortes.”
Evidentemente, aí está estratégia de longo prazo, com implicações de longo alcance. Mesmo que Obama retire alguns soldados do Afeganistão, no verão de 2011, conforme prometeu, tudo faz crer que lá permanecerão muitos outros soldados dos EUA (muitos, provavelmente, encobertos ou clandestinos) e que também haverá soldados dos EUA em muitos outros pontos – em “dois, três, mil Afeganistãos”, para atualizar o mote do Che.
Essa estratégia, enunciada pela primeira vez numa série de discursos de Obama e Gates, foi afinal formalizada na Quadrennial Defense Review, a revisão do trabalho do Pentágono, promovida pelo Congresso, de fato, revisão da estratégia global das forças dos EUA. Divulgada dia 1º de fevereiro[2], espera-se que a QDR sirva como guia do planejamento militar geral para os quatro anos seguintes, e que oriente as prioridades no orçamento do P entágono.
Como em revisões anteriores, a QDR 2010 começa por reafirmar a estatura dos EUA como potência global com responsabilidades globais – carga que nenhum outro país poderia assumir hoje. “A força e a influência dos EUA estão intimamente interconectadas com o destino do sistema internacional” – diz o documento. “Os militares dos EUA têm, portanto, de estar preparados para defender e implantar os mais amplos projetos nacionais na direção de promover a estabilidade em regiões-chave do mundo, assistindo nações necessitadas e promovendo o bem comum.”
Mas, se essa missão globalista permanece inalterada há décadas, a natureza das ameaças que pesam contra as forças dos EUA mudaram dramaticamente. “Os EUA enfrentam paisagem complexa e incerta no plano da segurança, na qual o passo das mudanças continua a acelerar”, diz a Review de 2010. “O surgimento de novos poderes, a influência crescente de atores não-estatais, a disseminação de armas de destruição em massa e outras tecnologias de destruição (…) implicam desafios profundos contra a ordem internacional.”
Os EUA também enfrentam novo perigo, não diferente do que Kennedy antevia em 1961: a emergência da guerrilha radical [orig. “radical insurgencies”] em nações corruptas e decadentes do mundo em desenvolvimento. “O sistema internacional mutante continuará a pressionar o Estado moderno, o que leva a prever que aumentem a frequência e a severidade dos desafios associados aos Estados cronicamente frágeis” – lê-se na QDR 2010. “Aqueles Estados são muitas vezes catalisadores do crescimento do radicalismo e do extremismo”.
Nesse ambiente, a tradicional vantagem dos EUA na guerra convencional – que o QDR chama de “large-scale force-on-force warfare” [aprox. “guerra em grande escala, exército contra exército”] – já não é garantia de sucesso. Assim sendo, os militares dos EUA têm de ser preparados para vencer em grande número de diferentes cenários concebíveis e para empregar as mesmas novas táticas de combate usadas pelos adversários e inimigos dos EUA. O principal objetivo dos EUA, diz a QDR 2010, é “assegurar que as forças dos EUA sejam flexíveis e adaptáveis, de modo a poderem confrontar toda a gama de desafios que podem emergir num ambiente complexo e dinâmico de segurança.”
Sob essa definição e projeto, nada é considerado mais importante, urgente ou prioritário que a tarefa de preparar as forças dos EUA para uma série infinita de campanhas de contrarresistência, contraguerrilha ou contrainsurgência [ing. counterinsurgency] nos mais remotos cantos do mundo em desenvolvimento. “As guerras que lutamos hoje e a avaliação de ambientes de segurança futuros exigem, somados, que os EUA construam e ampliem capacidades em todo o sistema de governo para derrotar operações de contrainsurgência [ing. sigla “COIN”], de desestabilização e de contraterrorismo [ing. sigla “CT”] nos mais diferentes ambientes, desde áreas metropolitanas densamente povoadas e em megacidades, até nas mais remotas montanhas, desertos, selvas e áreas litorâneas” – detalha o QDR 2010.
A linguagem aqui usada é importante e merece consideração especial – tanto pelo quanto revela do atual pensamento do Pentágono, quanto pelos muitos ecos que se ouvem do pensamento de Kennedy. “Operações de estabilização, de contraguerrilha em larga escala e de contraterrorismo não são campos separados, nichos ou desafios que digam respeito a apenas alguns Departamentos militares; todas essas operações exigem um conjunto de capacidades e competências requisitadas a todas as Forças Armadas dos EUA” – declara a QDR 2010. “Essas operações não são fenômeno transitório ou anômalo na paisagem da segurança. Ao contrário, deve-se esperar que, sem prazo para terminar, cada vez mais, grupos extremistas violentos, com ou sem o apoio dos Estados, continuarão a fomentar a instabilidade e a desafiar os interesses dos EUA e seus aliados.” Resultado disso, “as Forças Armadas dos EUA precisarão manter alto nível de competência para essa missão por décadas no futuro” (Eu sublinhei.)
Como a Review 2010 explicitamente declara, é hoje indispensável reconstruir substancialmente muitas das capacidades militares dos EUA. Em vez de “guerra em grande escala, exército contra exército”, o Pentágono deve ser configurado para lutar muitos conflitos de pequena escala em locações as mais diversas em todos os continentes e simultaneamente. Para tanto, as forças têm de contar com equipamento adequado a operações de contraguerrilha: helicópteros, armas leves, coletes de proteção, equipamento para visão noturna, veículos à prova de minas, aviões bombardeiros, aviões-robôs não tripulados armados e assemelhados. Muitos desses itens já estão sendo oferecidos às Forças Armadas no Iraque e no Afeganistão, mas, de fato, todo o exército dos EUA terá de ser reequipado.
E também será necessário treinar (além de armar e alimentar) todo o contingente – que também terá de ser arregimentado e alistado em número crescente, sobretudo para as Forças Especiais – que terá de lutar contra governos, sendo o caso, em Estados frágeis no Terceiro Mundo.
“Grupos terroristas buscam fugir à ação das forças de segurança, mediante exploração de áreas sem governo ou subgovernadas, das quais fazem paraísos seguros para arregimentar, doutrinar e treinar combatentes” – diagnostica a Review 2010. “Onde assim se recomende, as Forças dos EUA trabalharão com as forças militares de nações-parceiras, para fortalecer as respectivas capacidades para garantir a segurança interna (…) Por razões de legitimidade política, e por necessidade econômica, nada substitui, em eficácia, forças locais profissionais e motivadas, para garantir a proteção de populações ameaçadas por guerrilheiros e terroristas em ação.”
Exceto por uma quase imperceptível modernização da terminologia, são exatamente as mesmas palavras que Kennedy usou para justificar a contratação de milhares de “conselheiros” especialistas em contraguerrilha e Vietnã; além de outras centenas de “especialistas” em Sudeste Asiático, África e América Latina.
O risco está em que as “nações-parceiras” dos EUA nem sempre conseguem contribuir com “forças locais profissionais e motivadas”. Caso em que, os soldados dos EUA ficarão obrigados a carregar, sozinhos, parte cada vez maior do peso. Como se comprovou no Vietnã – e vê-se acontecer outra vez no Afeganistão hoje – acontecerá sempre assim nos casos em que o exército e a polícia locais sejam vistos, pela população, como instrumentos de governos corruptos e não-representativos.
Deve ser causa de alarme que, apesar do quadro preocupante que se vê no Afeganistão, o Pentágono esteja determinado a exportar esse modelo para outras áreas, para muitas, pela primeira vez, inclusive para a África. “A necessidade de dar assistência a Estados frágeis pós-conflitos, como a Libéria, a República Democrática do Congo e o Sudão, e a estados fracassados, como a Somália, com problemas transicionais, inclusive o extremismo, a pirataria, a pesca ilegal e tráfico de narcóticos, implica desafios significativos” – diz o documento. “Os esforços dos EUA dependerão de parcerias com Estados africanos, com outros aliados e parceiros internacionais e com organizações de segurança regionais e subregionais para ações que visem a formar quadros e a construir capacidades para operações de segurança e de manutenção da paz, para prevenir o terrorismo e para enfrentar crises humanitár ias.”
Os EUA já dão assistência ao governo ugandense em esforços – até aqui infrutíferos – para erradicar o “Exército de Resistência do Senhor”, brutal grupo de guerrilha, sem programa ideológico discernível; e também ao governo da Somália, em sua campanha (também sem qualquer resultado positivo) para livrar Mogadishu do grupo Al-Shabab, de militantes islâmicos ligados à Al-Qaeda. É provável, também, que equipes de assessores-conselheiros da Força-tarefa Conjunta “Corno da África” [ing. sigla CJTF-HOA], baseada em Camp Lemonier, no Djibouti, estejam engajadas em operações similares no Norte da África e no Sahel. (A CJTF-HOA é o braço armado do Comando dos EUA na África, organização multisserviços criada por Bush em 2008, à qual Obama, posteriorm ente, deu várias novas atribuições.)
O Pentágono também apoia operações antiguerrilha na Colômbia, nas Filipinas e no Iêmen, dentre outros casos. Em geral, são operações que implicam mobilizar equipes de treinamento e aconselhamento, armas e informação de inteligência e (muitas vezes clandestinas) unidades especializadas de combate. Segundo a Review 2010, “as Forças dos EUA trabalham no Corno da África, no Sahel, na Colômbia e em outros pontos, em treinamento, equipamento e aconselhamento aos seus países-hospedeiros, buscando vias para desmantelar organizações terroristas e redes de resistência, ao mesmo tempo em que se garante melhor segurança às populações civis intimidadas pela ação dos terroristas locais.” Outra vez, é indispensável saber até que ponto os EUA estão envolvidos nessas operações? Quem comanda? O que acontece cada vez que algum “país-hospedeiro” não tem meios de cooperar e todo o serviço passa a depender exclusivamente de soldados dos EUA?
E a preocupação de que esse tipo de pensamento leve ao surgimento de uma interminável série de novos exércitos de resistência locais como no Vietnã (e/ou no Afeganistão) e à geração de muitos Vietnãs e Afeganistões só aumenta, se se lê que a Review 2010 recomenda que se confie nos cientistas sociais para melhor compreendermos as realidades sociais e culturais complexas dessas regiões remotas. O “Projeto Minerva” do Departamento de Defesa está buscando reunir “o capital intelectual necessário que habilite dos EUA a operar nesses ambientes complexos”.
Para os de memória curta ou falha, aí está, ressuscitado, o famigerado “Projeto Camelot” – esforço do exército, na guerra do Vietnã, para usar os serviços de acadêmicos e scholars no trabalho de pesquisar e avaliar as reações e atitudes populares nos países do Terceiro Mundo, com vistas a instruir operações de contraguerrilha.
O principal perigo disso tudo, é claro, é que os militares dos EUA atolem-se numa constelação de ‘pequenas’ . É o fenômeno da “superextensão do império” de que fala Paul Kennedy em seu clássico The Rise and Fall of the Great Powers, de 1987.
É também, diz Fareed Zakaria em The Post-American World, o cenário que temos de evitar, se os EUA esperam escapar de ter destino igual ao do Império Britânico e outros impérios falidos. “O principal erro estratégico dos britânicos foi desperdiçar décadas – tempo, dinheiro, energia e atenção – em esforços vãos para estabilizar áreas periféricas do mapa” – Zakaria escreveu em 2008. “Os EUA podem facilmente se deixar prender em arapuca imperial semelhante”.
O renovado compromisso do Pentágono com a guerra de contraguerrilha e de baixa intensidade também exigirá substancial investimento em equipamentos, num momento em que os EUA enfrentam déficit recorde, que não para de corroer sua vitalidade de longo prazo. Para obter os fundos extra que considera necessários, Gates pediu aumento de 18 bilhões de dólares no orçamento base do Pentágono para o ano fiscal de 2011 – o que eleva o total de gasto a 549 bilhões de dólares (sem contar os custos de combate no Iraque e no Afeganistão). Para obter financiamento extra para esses projetos, planeja sacrificar também alguns itens considerados necessários para guerra convencional, mas desnecessários para a ‘nova’ guerra, como os jatos F-22 (que já não são produzidos em 2009).
Gates chama a isso “reequilibrar”, e diz-se que seria o princípio-guia de todo o novo orçamento do Pentágono. “Reequilibrar nossas forças para apoiar essas prioridades estratégicas significa que as forças dos EUA têm de ser flexíveis e adaptáveis, para confrontar toda a ampla gama de desafios que nos esperam”, disse a subsecretária de Defesa Michèle Flournoy, dos principais autores da Review 2010, em conferência de imprensa no Pentágono, dia 1º. de fevereiro. “Para sublinhar essa flexibilidade (…) precisamos de mais e melhor capacitação (…) equipamento aéreo, helicópteros, pequenos aviões, de inteligência, vigilância e reconhecimento, de competências linguísticas nas línguas locais e assim por diante.”
O perigo aqui é que o Congresso – sempre mobilizado para atender aos desígnios dos poderosos interesses do complexo militar industrial – apóie todo esse equipamento para combate de contraguerrilha com que sonham Gates e Flournoy, além de aprovarem, simultaneamente, todos os projetos de construção de armas supersofisticadas, pesadas, da ‘velha’ guerra, temendo ter algum dia de enfrentar algum eventual competidor ‘à moda’ dos soviéticos. Nessas circunstâncias, o orçamento do Pentágono sempre crescerá, fatalmente.
A estratégia Obama-Gates implica um duplo perigo. Por um lado, (1) cria o risco de os EUA envolverem-se em várias guerras sem fim, o que exaurirá os militares, o exército, o orçamento, além de fazer crescer o ânimo anti-EUA em todo o mundo – e esse, precisamente, era o objetivo de Che Guevara quando cunhou seu famoso brado de 1967.
Por outro lado, (2) o “reequilibramento” ao qual Gates aspira pode levar a maiores gastos na compra de materiais ‘leves’ para guerra ‘leve’, sem que, com isso, diminuam os gastos com materiais ‘pesados’ para guerra ‘pesada’, o que necessariamente engordará orçamentos, engordará o déficit nacional e manterá a economia paralisada. No pior dos mundos, acontecem simultaneamente (1) e (2) e os EUA estarão presos num ciclo de retiradas, humilhações e miséria.
Não há motivo para suspeitar que Obama e Gates tenham qualquer dúvida de que agem para o bem dos EUA e do mundo, quando advogam a nova estratégia de combate global contra todas as guerrilhas e resistências. É possível que essa estratégia realmente impeça a Al-Qaeda de assumir o controle, mesmo que temporariamente, em alguma “área sem Estado e sem governo” do planeta, nas franjas do mundo islâmico. OK. Mas a estratégia de combate global contra todas as guerrilhas e resistências não trabalha para eliminar as causas que fazem nascer o extremismo islâmico; nem tem qualquer possibilidade de construir alguma paz duradoura.
A nova estratégia do Pentágono só conseguirá, afinal de contas, nos fazer andar mais depressa para um mundo de antiamericanismo cada vez mais intenso e de cada vez mais violência.
——————————————————————————–
[1] O discurso de Obama em West Point pode ser lido, em português, no Blog Viomundo, em http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/obama-a-nacao-afeganistao-e-paquistao/
[2] O documento, de 126 páginas, pode ser lido, em inglês, em www.defense.gov/qdr/QDR%20as%20of%2029JAN10%201600.pdf
Michael T. Klare é professor de Estudos da Paz e Segurança no Hampshire College e colaborador de The Nation.É autor de Rising Powers, Shrinking Planet: The New Geopolitics of Energy.
Tradução: Caia Fittipaldi

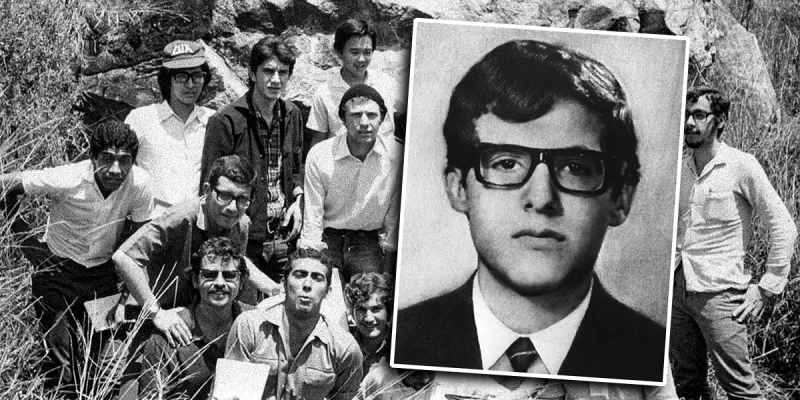



Comentários
Nascimento
Enquanto isso, nós adiamos mais um vez o final da novela dos caças… Nós deviamos seguir os passos de China, India, Coréia do Norte e Irã. No condominío mais luxuoso do planeta chamado Brasil, não podemos ter um exército de quintal, uma marinha de piscina e uma aeronaltica de aeromodelismo.
Pedro
Império é sempre uma coisa perigosa para a sobrevivência da humanidade.
Fabio_Passos
Por que Obama mantém este facínora torturador do Robert Gates como Ministro da Guerra?
Os eua não são democracia coisa nenhuma.
Lá só há um partido: O partido da guerra e do dinheiro.
E. Correa
Puxa ! ! – que bem posto; tudo coisa já sabida, mas extremamente bem compilada, própria para digstão mental fácil, à moda literatura de divulgação. Parabens, até nossos "especialistas" necessitam, vez em quando de um semelhante banho de simplicidade de estilo e talento na aproximação do assunto. Para os novos, esse artigo é um banho de informação.
CORREA
José
Congratulações à tradutora também, né?
Emilio GF
Essa "Guerra de quintal" foi 10 e não é para qualquer um.
Hudson Lacerda
Agora já tem até pena de morte preventiva, aprovada pessoalmente pelo ObaObama: http://www.commondreams.org/headline/2010/04/07
Fonte: http://www.stallman.org/archives/2010-jan-apr.htm…
Deixe seu comentário