David Bromwich, London Review of Books, vol. 32, n. 9, 13/5/2010, pp. 39-40.
http://www.lrb.co.uk/v32/n09/david-bromwich/diary
David Bromwich é professor de literatura e pensamento político em Yale. É colaborador regular de Huffington Post.
Tradução de Caia Fittipaldi.
Dia 21 de março, a Câmara de Deputados dos EUA aprovou lei de atenção pública à saúde da qual se falou durante um ano e para cuja aprovação, em vários sentidos, Barack Obama trabalhou sozinho. Conseguiu uma vitória em campo importante da legislação social, a primeira desse tipo em mais de 30 anos; e o resultado parece ter dado ao presidente e seu partido renovada confiança nos próprios esforços para alcançar reformas mais amplas. Aconteça o que acontecer agora, todos sabem que a derrota da reforma da saúde teria sido golpe mortal contra o governo Obama; a aprovação deu ao presidente um pouco mais de tempo para descobrir o que fazer acumular nova energia de governo. Fato é que a lei foi aprovada sem sequer um voto dos Republicanos, e suas modificações, revisões, ampliações e atrasos, para muitos dos quais o presidente acedeu, na busca vã por apoio dos dois partidos, fizeram de todo o processo um caso exemplar de ‘vitória feia’.
Quando o presidente apresentou seu projeto, na primavera passada, dois terços dos norte-americanos aprovavam a ideia de um sistema público de saúde nos EUA. Quando afinal a lei foi aprovada, esse número encolhera para um terço.
Para obter os votos de seu próprio partido, o presidente entregou parte significativa do próprio prestígio, ao fazer concessões aos senadores de Louisiana e Nebraska e ao conceder uma isenção de impostos para os sindicatos cobertos por planos de saúde de alto custo. O que o presidente proclamava, que superaria a corrupção “dos negócios, como sempre em Washington” foi assim anulado pela prática das artes usuais da adaptação política. As velhas promessas são relembradas diariamente pelas emissoras de rádio da direita. Toda a veemência e a animosidade do movimento anti-Obama estão hoje concentradas em impor-lhe derrota acachapante nas eleições de meio de mandato, esse ano. Não faça seja o que for, que ponha em risco nossa vitória – dizem os comentaristas de rádio. (A massa das “Tea Party”, com suas ideias anti-impostos, antidívida, antigoverno é vista com simpatia por algo entre 20% e 30% dos ele itores: o governo sabe que são menos que onda avassaladora de opinião, mas mais que fração desprezível dos eleitores.) E têm havido violentas exceções à regra da autocontenção e da discrição.
Dia 18 de fevereiro, um desses odiadores de impostos jogou um avião monomotor contra um prédio da Receita Federal em Austin, Texas; um grupo de militantes do movimento das “Tea Party” cercou os Democratas na escadaria do Capitólio depois da votação do projeto da saúde e gritou palavrões contra os deputados; e dia 19 de abril, fanáticos de direita desfilaram armados em manifestação no Parque Nacional de Fort Hunt, perto de Alexandria, Virginia. Mas os protestos anti-Obama já sossegaram. Os comentaristas de rádio vivem a repetir aos seus ouvintes que a melhor e mais completa vingança imaginável virá das urnas eleitorais, em novembro.
Os resultados das eleições que já aconteceram parecem alimentar essa esperança. Dia 3 de novembro passado, Bob McDonnell, Republicano, foi eleito governador do estado da Virginia; dia 19 de janeiro, um Republicano que se apresenta como independente, Scott Brown, conquistou a cadeira de Ted Kennedy no Senado por Massachusetts. A escala dessas vitórias torna-as particularmente sinistras. McDonnell obteve 59% dos votos; Brown, 52%, em estados nos quais um ano antes Obama obtivera respectivamente 53% e 62% dos votos. Entrevistas sugerem que aquelas eleições foram vistas pelos eleitores, sobretudo, como respostas de avaliação da presidência de Obama.
O primeiro projeto de ‘resgate’ de bancos foi arquitetado, é claro, no governo Bush e custou ¾ de trilhão de dólares; mas os ‘resgates’ subsequentes e o pacote de estímulos, que empurraram o gasto federal relacionado ao colapso financeiro para a casa dos vários trilhões, são usados contra Obama. Assim, também, a encampação pelo Estado da Chrysler e da General Motors, e a proposta inicial, feita pelo governo, de um programa de comercialização de emissões de gases poluentes (‘cap and trade’[1]). Por fim, há o perigo que ameaça o próprio plano de saúde de Obama, se a economia dos EUA continuar a definhar, ao longo do ano que falta até as eleições. A ideia de que os EUA aproximam-se da insolvência alastrou-se muito rapidamente, e nada do que Obama tem dito, ou do que dizem os especialistas que tem convocado, sequer consegue começar a diminuir o medo de todos. Mesmo assim, dois terços dos que se engajaram no movimento “Tea Party” apoiam a Previdência Social e o Medicare (o programa nacional de saúde pública, que agora beneficia todos os cidadãos com mais de 65 anos).
Porque o pessoal de Obama optou por não batizar seu plano de “Saúde Pública para Todos” permanece um mistério. Seja como for, o dano provocado pela longa série de alterações na proposta, até a vitória, ainda não foi superado. A demora do processo e a suspeita quanto às muitas alterações deram aos adversários do projeto tempo suficiente para respirar e acumular novas energias. Essa parece ser a dura lição a extrair do custoso triunfo do projeto obamista de reforma da Saúde.
Seja como for, quando, mês passado, Obama iniciou uma segunda campanha pela reforma da energia – conhecida sob a rubrica “cap and trade”, o presidente deu a impressão de ter considerado como modelo a seguir o processo que levou à reforma da saúde. Na campanha para aprovar o projeto “cap and trade”, de um mercado de compra e venda de créditos em gases poluentes, ele outra vez começou com concessões preventivas. Tentou acalmar a indústria nuclear, anunciando um plano para permitir a construção de uma nova geração de reatores. O direito de perfurar campos submarinos em busca de petróleo, que os Democratas rejeitaram durante os oito anos do governo de George W. Bush, foi imediatamente concedido por Obama, sem uma palavra de objeção. E a indústria do carvão, sem dúvida, estava sendo também acalmada, para a grande negociação do programa “ cap and trade”, antes de que o desastre da mina em West Virginia empurrasse a negociação de volta ao zero, e tornasse desaconselhável qualquer anúncio prematuro.
Mais uma vez, Obama está optando por não depender só da base popular do Partido Democrata, e construir alguma espécie de consenso ecumênico que começa dentro de sua cabeça. O processo parece ser intuitivo, e para explicá-lo seria preciso cair na psicologia. Obama parece ver-se como presidente do establishment. Se um levante populista da direita confrontar pesadamente sua legitimidade, se apoiadores desiludidos pararem de garantir financiamentos ou de bater à porta presidencial, ainda assim sente a confiança do líder que foi e continua a ser apoiado pelos líderes das corporações da alta indústria e das finanças, por um general afamado e chefe supremo do conselho superior do Estado-maior dos EUA, por maioria considerável de Wall Street, e pela mídia corporativa hegemônica, cujos recursos e canais Obama usa mais empenhadamente, de longe, que qualquer outro presidente antes dele.
Em 365 dias, dos seus primeiros 392 dias de governo, Barack Obama foi visto na mídia, em fotos, entrevistas, cerimônias ou aparições públicas. Só não foi manchete em 27 dias. Deu mais entrevistas, no primeiro ano, que Bill Clinton e George W. Bush somados. Sua taxa de aprovação, que estava em 70% há um ano, está hoje nos 45% – mas é evidentemente possível que presidente com fraca aprovação popular vença eleições, se as vozes dominantes na mídia se mantiverem ao seu lado e se a oposição não contar com talentos confiáveis. Muitos dos que votaram em Obama em 2008 votaram contra McCain e Palin. É possível que os mesmos votem exatamente como já votaram, contra os mesmos.
Os planos de Obama portanto são plausíveis e podem dar o resultado esperado. Apesar disso, cometeu erros que ninguém jamais supôs que cometeria.
A verdade é que, ao chegar ao governo, Obama ainda não era político completamente formado. Era recém-chegado à elite nacional e visivelmente gostava de ter chegado aonde chegara. Viu-se seu prazer em debates e reuniões públicas, nas quais várias vezes repetiu que, com o que ganhara com a venda de seus livros, alcançara o escalão superior do imposto de renda. Apareceria também mais tarde, no que disse sobre Lloyd Blankfein e Jamie Dimon, presidentes dos bancos Goldman Sachs e J.P. Morgan: “Conheço esses dois sujeitos; são negociantes traquejados.” Quem imaginaria Franklin Roosevelt ou John Kennedy dizendo tal coisa, ou dizendo-o com visível prazer? Ambos conheceram “esses sujeitos” a vida toda e jamais se sentiram tocados por qualquer glória refletida. Obama parece ainda não ter percebido que pode estar confiando demais no lugar em que está, entre a elite; e que essa excessiva confiança pode causar-lhe dois tipos de dano: acender o ressentimento dos mais pobres; e apagar seu brilho ante os mais ricos, porque mostra o quanto precisa deles.
John Heilemann e Mark Halperin, na absorvente história que escreveram da campanha de 2008, Race of a Lifetime, falam do “sorriso de um milhão de dólares” de Obama. É, sem dúvida, patrimônio valiosíssimo. Já a voz, não vale tanto. Obama muito visivelmente altera o tom de voz, conforme objetivos retóricos muito evidentes, conforme a audiência: usa a tonalidade ‘cantada’ de Martin Luther King, quando fala para plateias negras; no meio-oeste não pronuncia o ‘g’ final e faz valer as cadências locais (‘What we’re tryin’ to do’); nos discursos ao Congresso, é monocordiamente sóbrio, mas relaxa nos comícios (quando jamais deixou de repetir a palavra ‘folks’). A ‘manha’, o ‘jeito’ consciente de Obama, quando discursa, perceptível sempre, é coisa de que se gosta ou não se gosta – equivalente ao tique de cabeça de Reagan, ligeiramente inclinada, nas pausas. Por outro lado, a falta de humor em nenhum caso seria convertida em vantagem.
Alguma espontânea habilidade para rir de si mesmo, ou para uma tirada que critique sem ofender, sempre será qualidade apreciada num político, mas não é dom de que Obama possa servir-se. Sua autodepreciação é sempre dura e ensaiada, e seus comentários sempre mordem. A capacidade para falar ‘como igual’, nas entrevistas, tem conseguido esconder esse defeito de uma imprensa empenhada em admirá-lo; os programas de rádio têm dado uso mais crítico àquele traço, e já registraram o ar sempre superior com que o presidente fala. Quando acossado ou cansado, torna-se ainda mais arrogante — condescendente ou mais descontraidamente arrogante, à moda da elite branca.
O que respondeu a Hillary Clinton, num dos primeiros debates, quando ela o chamou de “simpático” – “Você também é até que bem simpática, Hillary”, foi exemplo bem precoce dessa tendência, pode-se dizer, agressiva. Apareceu também na discussão sobre o projeto da Saúde, quando John McCain martelava a tese da quebra das promessas de campanha, e Obama, que melhor faria se nada dissesse, nem precisava responder, optou por dizer “Permita-me esclarecer um detalhe, John, porque não estamos em campanha: a eleição está resolvida.” McCain fez ar de criança confusa e desamparada – perdido no vácuo –, mas Obama, pela resposta agressiva, presenteou-o com a saída vitimária, com o pathos do velho derrotado. Foi fala desagradável, de bedel de escola autoritária.
O mais frequente erro retórico político de Obama é o vício de sempre falar em tom de comando, tom que vem sempre acompanhado por persistente resistência a deixar-se ver como fonte da política que comanda. É traço muito marcado no modo como lidera seu partido; nesse ponto, a juventude e a precocidade trabalharam contra ele.
Nancy Pelosi, presidente da Câmara de Deputados, adora Obama; nos eventos públicos, é frequentemente vista olhando para o presidente com olhos de grande doador de campanha que vê seu protégé realizar seus mais dourados sonhos. Harry Reid, líder da maioria no Senado – que tem sido responsabilizado por todos por vários erros na condução da discussão do programa da Saúde, mas que parece estar absorvendo culpas que são, de fato, da Casa Branca – é outro admirador de primeira hora. Foi quem sentiu que o Senado começava a entediar Obama e sugeriu-lhe que se candidatasse à presidência. Com a vitória em 2008, Obama passou a liderar a classe, acima dos conselhos pragmáticos de gente que muito teria a ensinar-lhe. Poderiam tê-lo ensinado, para começar, que os Republicanos de hoje não são facilmente conversáveis e de modo algum ‘se acertarão conosco’.
Quem se tornou tutor, para o papel de estadista que Obama tem de desempenhar, foi, de fato, o próprio establishment dos EUA, como um todo. Mas não é substituto à altura dos democratas mais experientes.
Quando Obama chegou à presidência, já vira mais do mundo que muita gente, mas vira menos dos EUA que muitos norte-americanos. Bem, só conhecia o mundo acadêmico, o meio político liberal e corporativo, cujas portas sempre se abrem de par em par, por deslumbramento ou por gratidão, para um homem com as qualidades de Obama. Colegas da Faculdade de Direito de Harvard e da Faculdade de Direito da Universidade de Chicago conheciam-no bem como “mediador”, sem opiniões próprias definidas (ou conhecidas).
Não há qualquer registro de posições políticas de Obama em nenhum de seus ensaios publicados – nada substancial, citado ou citável – embora se saiba que tem hábitos de ouvinte atento, que só vota ou decide depois de ouvir todos os demais. Sempre viveu vida fácil e jamais viu-se sob a sombra de qualquer tipo de suspeita. Com duas décadas de aprendizado ambicioso, mas sem surpresas, nesse padrão, só foi surpreendido pelos primeiros sinais fortes de resistência, em 2009.
Até esse ano, há pouco exagero em dizer que os Republicanos com os quais Obama teve contato sempre foram juízes, advogados, líderes empresariais e professores acadêmicos. Jamais teve de bater-se com homem determinado, dos que se vestem de preto, como John Boehner, líder da minoria no Congresso; como no caso da Rádio Fox, a coisa parece-lhe uma ilha distante, cujas vozes são citadas nas conversas de jantares, cuja insistência ecoa distante no turbilhão de seminários e conferências dos think-tanks e discursos ‘de especialistas’, em cujo burburinho Obama vive imerso.
Seu senso de invencibilidade pessoal é sempre acompanhado de extrema cautela. Para muitos, são qualidades desejáveis em tempo de crise. Não concordo; preferiria que Obama fosse mais firme, e acho que deveria ter sido. A grande maioria admirava-o, quando estava há um mês no poder, inclusive os contrários às duas guerras, os indignados pelos ataques de Cheney-Bush contra as liberdades civis e pela escala do apoio a bancos e seguradoras que se estava exigindo dos contribuintes.
O partido da guerra e os “banqueiristas”, como hoje são chamados, estavam desacreditados; o momento era maduro para mudanças, e Obama concorrera sob a bandeira de que ele seria o executor das mudanças. O momento estava maduro para nova política externa que se afastasse do militarismo; e para política doméstica que criasse empregos e redirecionasse a economia, sem ouvir os conselhos dos mesmos que haviam levado tudo à ruína. Havia oportunidades para reforma, oportunidade que só acontece uma vez, por geração. Mas Obama agiu sob o pressuposto de que o establishment seria único e insubstituível, e teria de ser atendido na forma em que estivesse, como for, como é.
Esse pressuposto parece ter-se instalado entre o verão de 2008 – quando capitulou ante as regras da vigilância doméstica e pronunciou o discurso no AIPAC, garantindo irrestrito apoio a Israel – e o Discurso dos Arquivos Nacionais[2], sobre segurança, um ano depois. A trajetória completou-se com a demissão, em novembro passado, do cargo de conselheiro da Casa Branca, de Greg Craig[3]: Craig foi o advogado que redigiu o plano original de Obama para o fechamento da prisão de Guantánamo.
Se alguém compilar a lista dos conselheiros que Obama decapitou em momentos de pressão, ou pessoas que nomeou para postos importantes sem qualquer consideração que não fosse de momento, encontrará nomes como Zbigniew Brzezinski, Robert Malley, Rashid Khalidi e o senador Republicano contra a guerra Chuck Hagel, cujo comentário vazado para George W. Bush pode ter salvo os EUA de uma guerra contra o Irã em 2007.
E se se fizer uma lista de incidentes, além da lista de nomes, lá estará a desconsideração contra Jimmy Carter, ao negar-lhe lugar de destaque na Convenção Democrática de 2008 – que foi desconsideração e omissão imperdoável. Ao contrário, o atraso no fechamento de Guantánamo poderia ser entendido como erro, não fosse ato que se encaixa perfeitamente no estilo Obama. Obama é mestre insuperável, entre os políticos, em encerrar prazos quando ainda restam muitos minutos e ele não chegou adiantado. Foi o que fez em Guantánamo.
Foi o que fez com Israel-palestinos, quando exigiu o imediato congelamento de construções nas colônias exclusivas para judeus e depois se viu que, se tivesse sabido esperar e negociar, daria a Netanyahu a chance de responder melhor. Foi o que fez e continua a fazer no Irã, onde a política dos EUA permanece suspensa, indefinida entre (1) as preferências de Robert Gates e do almirante Mullen por uma estratégia de contenção, pela qual o Irã poderia aceitar abrir mão da pesquisa para construir armas atômicas, em troca de garantias para a segurança regional; e (2) a contrapressão de Dennis Ross, bandeira e mastro do lobby pró-Israel dentro da Casa Branca, que quer ver sangue e exige, além de sanções ‘normais’, também sanções “debilitantes” e, quando nada funcionar, exigirá bombas e bombardeio contra o Irã.
No Afeganistão e no Iraque, Obama pareceu preferir o desengajamento da guerra, o mais rápido possível. Mas, até agora, apenas trocou de carga, mas não alterou o padrão: a guerra ativa agora é no Afeganistão, com uso extensivo de aviões-robôs Predator, para assassinatos também no Paquistão. Enquanto isso, manteve a proteção que Bush criou para segredos de Estado, para impedir processos em que os EUA são acusados de prática de tortura. Apoiou as violações de Cheney-Bush das leis do “Foreign Intelligence Surveillance Act”. Tem-se dedicado a manter presos alguns dos prisioneiros de Guantánamo em situação de detenção sem prazo, por efeito de uma lei de guerra que ainda nem foi rascunhada.
Garantiu aos advogados do gabinete do vice-presidente e o “Office of Legal Counsel” do governo Bush que não planeja acusá-los da autoria de “memorandos sobre a tortura”, que agridem tratados dos quais os EUA são signatários. Assinou lei que dá ao presidente poder para mandar assassinar cidadãos norte-americanos em território estrangeiro, sem processo legal ou supervisão, no caso de o cidadão ser acusado de incitar à violência contra os EUA. Finalmente, suspendeu a nomeação de advogado progressista, Dawn Johnsen, à presidência do Office of Legal Counsel – advogado que certamente desaprovaria a política de tornar ‘improcessáveis’ os defensores da tortura; e excluiu todos os impedimentos que havia contra a autorização, pelo presidente, para assassinato de cidadãos norte-americanos.
Muitos ainda sentem certo alívio por ter Obama na presidência dos EUA; de certo modo, partilho esse sentimento. No meu caso, o alívio brota da possibilidade de, depois de oito anos de catástrofe, termos presidente que, pelo menos, é capaz de compreender a extensão e a natureza do problema que enfrenta. A mudança de sentimento é fato, embora apenas fato psicológico, e está acontecendo em praticamente todo o mundo. Mas é resultado de mudanças reais.
Dia 8 de abril, o reformador religioso muçulmano Tariq Ramadan falou na Cooper Union em Nova York e, em circunstâncias que eram em parte conferência, em parte debate, uma multidão de curiosos tiveram ocasião de ouvir uma voz de liderança moderada do mundo islâmico. Jamais aconteceria em governo de Cheney e Bush: o visto de Ramadan havia sido cancelado pelo Departamento de Estado em 2004, e foi preciso todo o empenho de Hillary Clinton para reverter o cancelamento. Seja qual for o ritmo no qual Obama opera, esse é o tipo de abertura que parece possível sob seu governo.
Por mais que se possa lastimar o temperamento que o arrasta na direção de concessões preventivas, é importante não subestimar os obstáculos que o cercam de vários lados. Amostra deles se pode ver na recente discussão sobre o anúncio, por Israel, de que planejavam construir 1.600 novas casas exclusivas para judeus em Jerusalém Leste. O fato de o plano ter sido anunciado como ridícula manifestação de ‘força’, durante visita oficial de Joe Biden, permitiu que Obama demarcasse bem claramente suas diferenças com Netanyahu.
Aqui, depois de anos de adiamentos, e com considerável competência política, o presidente apoiou, não só seu vice-presidente, mas também as declarações do mais afamado general dos EUA, David Petraeus, em depoimento no Congresso. Petraeus disse que a questão jamais resolvida com os palestinos, gera hoje a mais grave ameaça ‘de fundo’ contra a segurança dos norte-americanos, em casa e no exterior. Resultado desse ato de resistência a Netanyahu, o presidente Obama foi alvo de carta aberta escrita por Ron Lauder (presidente do Congresso Mundial Judeu), de carta aberta escrita por Elie Wiesel e de protesto de senadores, provocado pelo AIPAC e subscrito por 76 senadores, 38 dos quais, Democratas.
A oposição às políticas de Obama dentro dos EUA provavelmente ainda não alcançou o ponto máximo. O projeto consistente do Partido Republicano desde 1970 é a ‘sulificação’ das políticas dos EUA; e os que lastimam que os democratas tenham posto fim à segregação racial no sul dos EUA podem hoje admirar os israelenses por preservar políticas assemelhadas, à maneira israelense. Lyndon Johnson disse, ao assinar a Carta dos Direitos Civis, dia 2 de julho de 1964: “Ao longo de uma geração, perdemos o Sul”.
Já são duas gerações, hoje, e não há sinal de os EUA terem de fato recuperado o Sul perdido. O controle político da região voltou ao partido de Abraham Lincoln; e esse partido, em 2010, está pesadamente envolvido na celebração do Mês da História dos Confederados. Para a nova ortodoxia do sul Republicano, a Guerra Civil foi mais “disputa de desacordos econômicos”, que discussão sobre escravatura.
O extirpamento do sentimento de igualdade constitucional – o direito de todos serem iguais perante a lei; e a justiça, nas palavras de Lincoln, de “aliviar todos os pesos artificiais, de cima de todos os ombros” –, de dentro da ideologia do Partido Republicano contemporâneo, tem de ser analisado como um dos mais estranhos movimentos de toda a história dos EUA.
O próprio Lincoln pressentiu alguma coisa estranha, quando aconteceu de os primeiros norte-americanos que se denominaram Democratas, afastarem-se do partido de Jefferson, para abraçar o partido da expansão territorial e dos direitos de propriedade, sob Andrew Jackson e Stephen Douglas; enquanto o partido Whig, depois de associado a John Adams, sob o novo nome de Partido Republicano, expandia a causa da liberdade para além do direito à propriedade. “Lembro-me”, Lincoln escreveu em 1859,
“de dois homens meio embriagados, que começaram a brigar ainda metidos ambos em casacões cinzentos, e que, ao longo da briga, sem que de fato nenhum resultasse muito ferido, arrancaram-se os casacões um do outro e, sempre no calor da briga, acabaram por trocar os casacões, vestindo um o casacão do outro. Se os atuais dois principais partidos são hoje realmente idênticos ao que foram nos dias de Jefferson e Adams, então trocaram os casacões, como aqueles dois bêbados.”
John Boehner estava bem metido no novo casacão cinzento, quando gritou aquele ‘Hell no!’, rejeitando a proposta de mudança na Saúde de Obama e fechando a posição dos Republicanos naquele debate.
Boehner – que é orador competente, duro, e político que arrasta as massas até o limite do tumulto – usou o tom de voz e as palavras que usaria para induzir a massa a linchar algum infeliz que o xerife ainda tentasse proteger. Um degrau abaixo, para político nacionalmente conhecido, mas gêmeo siamês do ‘É mentira!’, gritado para o presidente, do piso, abaixo da tribuna do Congresso, em setembro último.
É provável que o racismo seja causa necessária, mas não suficiente, para o surgimento do movimento “Tea Party”. A direita organizada, que Obama gosta de ignorar, mas que com certeza desempenhará papel específico nas duas próximas eleições, não é abordável em massa. Mas alguns de seus membros podem, sim, ser abordados (alguns deles votaram em Obama). O que, então, Obama deve dizer a eles?
É curioso que se pergunte nesses termos, em vez de, por exemplo, “O que Obama deve fazer?” Traço estranho no governo de Obama é o quanto se consideram seus discursos como atos políticos, como ações. “Há alguma coisa esquisita”, observou um atento comentarista político dia desses, “mas quando se conversa com as pessoas sobre Obama, todos sempre mencionam os discursos, comparando uns discursos de Obama e outros discursos de Obama. ‘Oh, como naquele grande momento do discurso sobre raça’. Ou: ‘O discurso de West Point foi decepcionante, mas ele recuperou-se no discurso do Nobel.’ As pessoas falam sobre o que Obama diz e comparam com outros ditos do mesmo Obama.” Essa variante de avaliação estética jamais foi admitida como superior à avaliação política, do modo como acontece hoje, para nenhum outro presidente, nunca.
Obama deve estar consciente dessa ‘licença’ não merecida, muitíssimo clara na mídia considerada respeitável, mas essa ‘licença’ só faz estimular uma falsa crença de que suas palavras sejam o equivalente moral de atos políticos, quando se sabe que, em outros políticos, as palavras não são ações; e pode-se dizer que, em muitos casos, andem exatamente na direção contrária (da não-ação, do simulacro da ação, da des-ação, da negação da ação).
Não se considerando o que diga, Obama fala tão pensadamente – com tamanho cuidado para não deixar escapar uma palavra irrefletida –, que parece ser lúcido expositor de sentimentos e intenções. Mas falta-lhe o talento para o ad libitum do político nato, habilidade e talento para oferecer, na explicação, o que realmente explica. Nenhum dos discursos de Obama, até agora, expõe qualquer política coerente, em qualquer área de governo; e todos os seus discursos dão a impressão de que Obama crê firmemente na consistência e na transparência de sua posição pessoal. Fala como se falasse sob autorização plena e sem restrições do establishment que conta – corporativo, financeiro, militar, médico. – E sem jamais dar-se o trabalho de supor adversário forte.
Obama é, por temperamento, homem de tendências, não de compromissos. Gostaria que as coisas melhorassem para todos, também para os ricos, mas especialmente para os pobres, porque os pobres precisam mais. Mas evita atentamente a linguagem da igualdade econômica. Obama é um fabiano não socialista. Os libertários acertam ao vê-lo como um super admirador da autoridade legítima, que confia demais – além de excessivamente implicitamente – no poder do Estado.
Esse é o pressuposto que leva ao emprego sempre crescente dos aviões-robôs Predator e Reaper para espionagem e vigilância, e dos mísseis-robôs Hellfire para as matanças. Obama não gosta de guerras e preferiria reduzir a ação militar no Afeganistão. Mas, para fazer isso, é indispensável mais que uma tendência. É preciso assumir pleno compromisso, para que o presidente diga, imediatamente: não podemos continuar a ignorando nossos reais recursos políticos, financeiros e psicológicos; não podemos continuar a fazer várias guerras tão distantes, consumindo nelas todos nossos recursos; não podemos continuar a jogar sobre os ombros das futuras gerações os efeitos do que estamos fazendo; não podemos admitir que as dívidas e déficits continuem a aumentar sempre; não se pode continuar a fazer tudo isso, e, ao mesmo tempo, manter a integridade constitucional dos EUA.
Líder mais capaz de investir em convicções, não só em tendências, usaria a palavra “império” em tom mais neutro, de menos encômio. Faria os norte-americanos sentirem-se menos confortáveis ante o ‘ímpeto’ imperial. E, sempre reconhecendo a necessidade de uma ou outra medida emergencial de defesa, não deixaria de mostrar-se arqueado ante o peso terrível dos bilhões de dólares que torna insustentável a manutenção do império. Obama ainda não deu sequer um qualquer mínimo passo, para começar esse trabalho de persuasão.
Mas fez interessantes promessas, que agora têm de ser acompanhadas bem de perto. Se conseguir cumprir uma ou duas – digamos: as relacionadas à contenção da proliferação de armas atômicas e as que tenham a ver com a tragédia dos palestinos – talvez obtenha um crédito que ampliará a chance de outras conquistas. Essa é a esperança que muitos acalentam, já desde a batalha pela Saúde Pública. Ao mesmo tempo, há agentes operando contra ele nos EUA, às vezes em cooperação com outros fora dos EUA, e o impacto dessas ações far-se-á sentir na indicação dos candidatos do executivo, nas eleições e nas táticas de campanha eleitoral, nas ‘paradas de sucesso’ e nos programas de rádio.
Para alcançar outra vitória, uma, que seja, da magnitude da vitória que obteve na Saúde Pública, Obama terá de superar a postura de mediador, que é traço natural nele. Terá de reconhecer, na sua prática política, que os partidos existem; que é líder de um partido; que há causas melhores e causas piores; que, se a coisa parece combate corpo a corpo, é porque é combate corpo a corpo. Nada disso se resolve por mera troca de táticas. Para vencer, é praticamente necessário dar vida a outro tipo de personagem.
BROMWICH, D. (2010). Diary. London Review of Books, 32(9), 39-40. Em http://www.lrb.co.uk/v32/n09/david-bromwich/diary .
[1] O sistema chamado “cap and trade” vale-se de regras de mercado para tentar controlar a poluição: permite que empresa e governos nacionais comercializem créditos de carbono, em condições controladas, ou assim pressupostas, com o objetivo de limitar as emissões de carbono e gases poluentes. Sobre isso, ver, por exemplo, http://www. epa.gov/captrade/, página da Agência de Proteção Ambiental dos EUA.
[2] Pode ser lido em português, em Viomundo (http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/obam a-a-nacao-afeganistao-e-paquistao/).
[3] Sobre isso, ver, por exemplo, Time, 19/11/2009, em http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1940537,00.html.

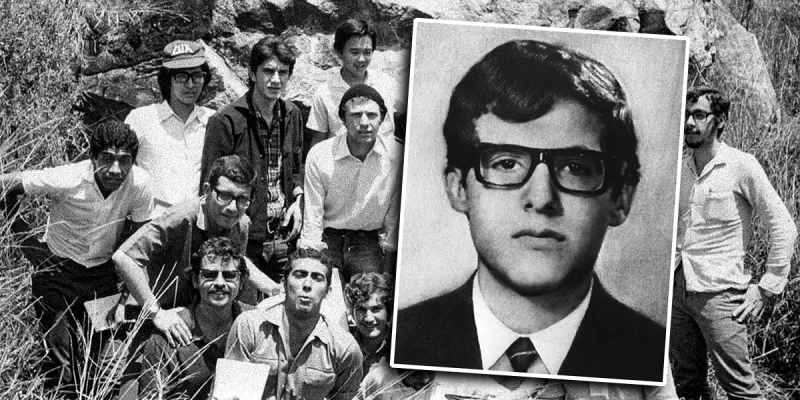



Comentários
mariazinha
Por menos que Obama me convença, devo reconhecer que é o menos pior dos presidentes estadunidenses. Isto pq alguns, antes dele, acabaram com o respeito que todos tinham pelo Império. Especialmente, a era bucheniana; verdadeiro horror. Os buches fizeram um verdadeiro estrago na biografia dos EUA.
Agora, Obama, pega uma situação difícil com seu país desacreditado pelas mentiras reveladas, as quais, descobrimos estarrecidos, eram prática constante. Ainda mais: impossível acabar com as guerras de hora para outra, não contando com ajuda da maioria dos políticos; belicosos e impertinentes.
Especialmente sobre o Irã, haverá um impasse: Terá que apoiar o diálogo ou seguir sua cruenta vice e seu sanguinário satélite, Israel. Em uma ou outra decisão, pagará um preço. Depende agora, qual preço estará disposto a pagar. Espero que pague, qqer. preço, pela PAZ.
Engajarte
Um presidente fraco, todo mundo já percebeu.
Vinculado e amarado por lobies e pressões poderosas, o homem não avança em nada, somente no avanço do recuo.
É um conciliador, Lula e FHC também são, a diferença é que Lula é muito mais ousado e inteligente, tem visão de longo prazo, ao final tem conseguido várias vitórias expressivas, ao contrário do Barak Hussein e FHC, que ficam na conciliação menor que o lado conservador é mais agressivo e sempre ganha no grito.
O Barak é menos que uma marionete, não tem personalidade política, nisso até o Bush ganha dele de longe, claro que como presidente dos EUA não lhe faltam bajuladores, como demonstrou a concessão do Nobel da Paz, para quem ampliou seu orçamento militar, expandiu as guerras que herdou, e no próprio discurso de premiação repetiu a desculpa de todos os beligerantes do mundo, que para ter a paz é necessário fazer a guerra primeiro.
O Brasileiro
Se a vida fosse tão simples… e tudo pudesse ser mudado num passe de mágica… sem conflitos… sem tragédias…
No mundo real, cada movimento tem de ser cuidadosamente analisado, planejado… e mesmo assim, muita coisa ainda pode dar errado!
Muitas vezes não se pode fazer o necessário, então se faz o possível.
Mas são os pequenos gestos que são o início de grandes transformações.
Os norte-americanos descobriram que também na economia, liberdade não pode estar dissociada da responsabilidade.
Viu PiG?
Bruno Moraes
Muito bom, o artigo. Interessante a analise sobre a deferência que Obama demonstra face a membros da "elite" (a palavra usada nao foi essa, estou simplificando) e como isso se relaciona com a sua historia de vida (Harvard, Chicago Law School, etc). Me faz pensar justamente no caso do Lula, que apesar da diplomacia e de evitar o confronto aberto, em nenhum momento demonstrou subserviência ou deslumbramento.
Lucas Cardoso
"Dia 18 de fevereiro, um desses odiadores de impostos jogou um avião monomotor contra um prédio da Receita Federal em Austin, Texas; um grupo de militantes do movimento das “Tea Party”"
30% dos eleitores estadunidenses apoiam gente que joga aviões contra prédios? Finalmente descobri o problema daquele povo: memória curta.
Fora isso, artigo extremamente interessante sobre a psicologia de Obama e o clima político estadunidense em geral. Faz algumas afirmações que acho difíceis de serem provadas, mas que não são implausíveis.
Irani Leite
Azenha,
Este artigo abaixo é muito interessante sobre o lobby de Israel nos EUA.
http://www.cebrap.org.br/imagens/Arquivos/o_lobby…
Deixe seu comentário